
Da ocasião a não ser preservada
Viver conforme a ocasião. Governar, argumentar, tudo deve se dar de acordo com a oportunidade. Querer quando se pode, porque a ocasião e o tempo não esperam. – Baltazar Gracián, Oráculo manual y arte de prudencia, 1647, § 288.
Volta-e-meia aparece algum artista ou coisa que o valha para esclarecer-nos de que cada vida provém de uma transa e que toda a história da humanidade resume-se à sexo e sangue. Sem pensar muito, aceitamos tal obviedade porque é sempre “bom lembrar”. Silenciamo-nos quanto a isso agora, silenciamo-nos quanto a isso depois. Entre um silêncio e outro há uma espécie de resignação misturada com ironia esclarecida. Mas como já nos alertava Oscar Wilde, “quem diz a verdade cedo ou tarde é apanhado por isso”.
Não importa qual seja a verdade, mas quem é que se interessa por ela e por quê. O discurso da autoajuda, por exemplo, baseia-se na seguinte verdade: desde a infância somos coagidos a nos sentir culpados (não só por questões morais, mas também por desejos, disputas etc.), de modo que a maioria de nossos problemas resulta dessa culpa traiçoeira. Isso é tão óbvio quanto seu mecanismo de convencimento: você deve se sentir culpado por se sentir culpado. Sentimos culpa especialmente quando descobrimos que não deveríamos senti-la, enquanto o mais fácil seria assumir uma culpa qualquer, verdadeira ou não, conforme a ocasião.

Não é surpreendente, pois, que a chamada “revolução sexual” tenha acentuado, ao invés de dissipado, a relação conflituosa (o valor que se cria pela falta) que ainda mantemos com o corpo. A promessa do esclarecimento contra o mal-estar sexual afetou pouco ou nada as implicações desse mal-estar – o medo de infecções insidiosas, a dúvida de descobrir-se hetero ou homossexual, a vergonha da impotência, da falta/excesso de desejo etc. Contabilizamos riscos (doença, violência, desastres, solidão) e os autenticamos como “verdadeiros” (pesquisas, patologias, remédios, práticas preventivas) para justificar um temor arcaico do contato com o outro. Reivindicamos pelo direito de apagar qualquer “conteúdo ofensivo” que possa aparecer na nossa frente. Confundimos prevenção com desejo de autoconservação.
Prevenção é uma conduta cega de conservação. Em meio ao impasse do “ou eu ou eles”, a escolha preventiva recai sobre a morte dos outros, uma vez que ela é condição de minha sobrevivência. Sob o imperativo de não poder morrer, até mesmo o eu e o mundo são vividos com desconfiança e controle, como ameaças em potencial. Sua cegueira, portanto, não diz respeito a um niilismo que retira da vida qualquer sentido ou valor. Sua cegueira reside, ao contrário, na necessidade de algum motivo obscuro que justifique a conservação da vida.
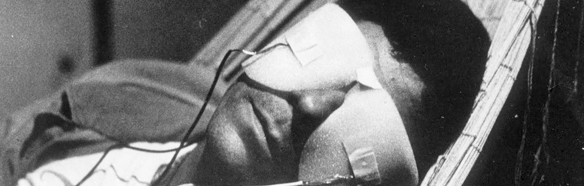
Curioso é que, servindo para inspecionar a tudo e a todos, este motivo deve necessariamente prevenir, comedir, conter, regular e economizar o próprio desejo de viver. Para tanto, também precisa ser obscuro e implicitamente metafísico. Exemplos: o inconsciente como um além imanente individual e coletivo; a história como esfera das origens perdidas e do futuro prometido, como aquilo que nos dá e ao mesmo tempo toma nossa identidade; o trabalho como via de sobrevivência, superação de limites e realização pessoal; as artes como fastígio cultural e elevação intelectual/espiritual; as ciências como aperfeiçoamento humano e como acesso para outras dimensões da existência etc.
Não sobra mistério algum: se tudo se resume a “sexo e sangue”, então é cada um por si e negócios à parte. Uma ética da prevenção, portanto, só é possível se não houver nenhum enigma, apenas problemas pontuais; nenhuma contradição, apenas ironias ainda “mal compreendidas”. Só que é justamente de uma ordem esclarecida como esta que aparecem novas formas de ocultismo, como a figura do “Aprendiz” de Roberto Justus – ou a do cientista do terceiro Reich alemão – que subjuga determinadas pessoas sob a égide do “mercado” – ou dos “fatos” histórico-científicos.

É verdade, contudo, que o homem encontra-se desde o início atravessado por guerra e erotismo, por hostilizações e reconciliações, aniquilações e criações. Mas tal verdade, para além de seu sentido cru, imediato, conformado pelas contingências histórias ou socioculturais, guarda um sentido figurado e semanticamente inesgotável que só transparece nas metáforas, representações e traduções narrativo-ficcionais. De forma análoga, o desejo de viver nunca aponta a um mesmo significado, a uma mesma interpretação, a um mesmo princípio ou finalidade. Pois em última instância não há vida a ser preservada, comedida e regulada; o que há são situações e desejos a serem vividos de acordo com cada ocasião.
Dito de modo enfático, o desejo é antes uma potência do que uma falta, de modo que desejar a vida não tem nada a ver com preservá-la. O esforço de preservação – seja da espécie, da consciência, da natureza etc. – recusa ou eufemiza o fato de que não há e nunca houve algo a ser preservado no e pelo desejo de viver. Por que é que se vive afinal? É que não se trata da vida, responderia Deleuze, trata-se de um desejo que sempre reaparece de maneira diferente.

Nossa inegável economia libidinal responde à insaciabilidade deste desejo, e não o contrário. Mesmo com a constatação de que o tempo passa e não cessa de passar, que tudo que existe deixa de existir, continuamos desejando que algo permaneça. E por mais que tal desejo possa ser controlado, dissolvido e até reprimido, é a diferença das ocasiões que permanece nos afetando. Podemos desviar um rio de seu curso, mas não podemos mudar o fato de existirem rios e cursos, nem as relações possíveis que mantêm entre si. O rio de Heráclito será sempre o mesmo: continuará fluindo uma possibilidade sempre única de tal ou qual existência.
Se esta singularidade nos parece previsível ou “natural”, é porque nossa cultura ocidental pauta-se no caráter idêntico do “eu”, isto é, na ideia de uma mesma consciência individual que se repete para haver coesão em tudo que se torna consciente. Este “eu” constitui tanto o sentido de uma proposição quanto o atributo de um estado de coisas – nunca a coincidência de uma individualidade constante. Evidentemente não há nada de errado nisso, pelo contrário, é uma convenção social que nos identifica e nos permite reconhecer os outros e o mundo.

O problema, novamente, é a culpa (ou culpa pela culpa) que pode surgir de qualquer convenção como justificativa esclarecida para se evitar ou regular o desejo pelo outro, por uma ocasião ou pela vida como um todo. O fato é que não há como escapar das convenções. Sobretudo quando se pretende cultivar um “olhar crítico” sobre as coisas, por meio da reflexão constante e de ideias originais, não se cria nada além de artifícios convencionais. Não há nada mais previsível, por exemplo, do que uma ironia esclarecida: inverter ou deslocar o sentido do sexo ou da negociação, indicando uma “verdade” a ser decifrada.
Por outro lado, não há nada mais eficaz do que uma ironia não-esclarecida: escancarar a total aleatoriedade de um jogo (convenção) que atribui certo valor e significado ao sexo ou à negociação, reafirmando assim dada situação. É eficaz não para escapar da convenção, mas para beneficiar-se dela e aderir-se à ocasião. Eis uma conduta ética alinhada ao desejo de viver: jogar com as convenções que se arranjam em determinado momento; nada a ser preservado, cultivado ou justificado. Não se trata de cinismo, uma vez que o cínico joga por acreditar que sabe de algo privilegiado, algo de que ninguém mais sabe. A ética da ocasião, inversamente, joga com o próprio acaso e, portanto, não se pressupõe esclarecida.

Em vez de tentar impor uma vontade pessoal para transformar ou preservar a realidade, aceitar a necessidade de adequar-se à realidade justamente por desejar vivê-la. Como qualquer sentimento, o desejo de viver não é justificável, ainda que toda convenção sirva de justificativa. Nossas ações nem sempre são movidas por ira e sexo, muito menos por “boas intenções” – podemos assumir ou não a “culpa” de agir conforme a ocasião, não por uma questão de interesse ou oportunismo (princípio utilitário aplicado a toda ocasião), mas para aprovar ou não a eterna contradição do que somos, do que queremos e fazemos.
Precisamente, a contradição de nunca haver uma vida pronta à nossa espera e, contudo, de a desejarmos quanto mais ela se mostra irreversível. Esboçamos pequenas modificações, fazemos desvios e traçamos projetos, mas não há como preservá-la dela mesma. Talvez “design” possa assinalar essa ocasião que não perdura, uma diminuição da resistência à mudança, um elogio ao movimento, quase como dançar com tanta precisão que parece que algo permaneceu imóvel. Se a mudança é a única coisa que efetivamente não muda, que nunca para de acontecer, resta-nos lutar contra ela ou tentar dançar conforme a música – uma música que depende de alguém que a escute ao mesmo tempo em que a componha.
Shit philosophers say | By way of beauty (2012)







Comentários
Os comentários estão encerrados.