
O engodo do projeto
Em sua raiz etimológica latina, “projectum” significa lançar-se para frente, uma forma de ação que antecipa a si mesma. Mas assim como o trato com o tempo no pensamento greco-romano não colocava necessariamente em oposição o antes e o depois – os mitos, por exemplo, não eram acontecimentos de um passado longínquo, mas histórias que aconteciam a qualquer momento e o tempo todo –, o significado de projeto era ambivalente: podia tanto significar antecipação espaço-temporal do que ainda não há quanto “fazer advir” o que potencialmente já está ali.
Só que, se outrora não havia nada que não fosse ao mesmo tempo real e ficcional (passível de ser narrado), em dado momento, grosso modo, aprendemos que nosso olhar sobre o mundo nem sempre corresponde ao mundo em si (que então foi entendido como “já pronto”), podendo muitas vezes aquele enganar-nos sobre este. Com isso o projeto assume a função de superar este logro, tornando-se um exercício de autonomia em contínua tensão entre uma afirmação intencional e o reconhecimento de obstáculos contra tal intenção.
Não que antes nossa intenção fosse “magicamente” materializada no mundo, mas tanto nossa intenção quanto as coisas que aconteciam ao acaso eram vivenciadas como partes de um “jogo” sempre ambíguo. Escassez na colheita podia significar tanto castigo de um deus irritado quanto apenas descaso de outro deus, mas também simplesmente distração humana de não cultivar o plantio de maneira adequada. Agora, se qualquer uma dessas opções nos parece “falta de opção”, é porque um dia alguém nos ensinou a distinguir e separar definitivamente as leis de uma “natureza exterior” da intencionalidade humana, que se desdobra em convenções sociais.

Tirar proveito das leis da natureza exterior com base nas convenções da sociedade é o que alguns autores chamaram de “pensamento moderno”. O que nos interessa, no entanto, é que, se este pensamento nunca saiu do papel, como demonstra Bruno Latour (aqui), talvez aquilo que hoje chamamos de design nunca tenha sido totalmente “projeto”, ao menos no sentido moderno do termo. E ainda, se o pós-modernismo é sintoma da contradição do modernismo, como também afirma Latour, aquilo que se repete na forma de “vício projetual” (obsolescência, estilismo, superficialidade etc.) possa ser, fora do projeto, uma virtude ainda a ser explorada pelo design.
Durante muito tempo, a ideia moderna de “projeto” funcionou (e ainda funciona) como mediadora de sentido nos laços sociais. A forma como nos “preparamos” para o mundo, desde as palavras escolhidas para cada pessoa/momento até nossos planos para o futuro, sempre passa pelo projeto, de modo que mesmo uma eventual violação do projeto se inscreve na atualização desse mesmo projeto. É uma maneira de construir e narrar quem somos em uma existência socialmente partilhada, de maneira que cada escolha adquira significado na arquitetura de um projeto de si (identidade) e ao mesmo tempo na de um projeto em conjunto (sociedade). Quando algum plano dá errado, não é porque o projeto está errado, mas porque há obstáculos que devem ser contornados e então incluídos nele. Muito bonito.
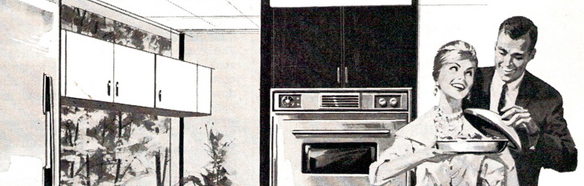
O problema é quando esse projeto é lido ao pé da letra para servir de via de mão única. Neste caso, ele deixa de ser uma mediação em que cada escolha se conjuga com todas outras para se tornar um procedimento regulatório e inalterável. Por conseguinte, qualquer indivíduo que arquitete um projeto para si necessariamente precisa passar por um programa prévio e “seguro” – escolarização mínima, emprego fixo, prestação de contas etc. Mas se a regra básica é que nunca há espaço para todos, então o projeto “desprojeta” a si mesmo: rarefação da carteira assinada, mercantilização do conhecimento a preço de banana, flexibilização de leis trabalhistas etc.
Esta é inclusive a transição do liberalismo ao neoliberalismo: enquanto o primeiro elege o livre-mercado como mecanismo que nos levaria à igualdade, o segundo já assume que a desigualdade aprimora o livre-mercado, que então se torna um projeto inalterável. De modo análogo, quando se fala em drogas, grande parte das pessoas apoia intervenções policiais truculentas e a internação forçada como as que vimos na cracolândia em São Paulo. Quer dizer, é mais fácil acreditar que a violência se justifica perante a criminalidade do que admitir que a vida social, em seus “condomínios fechados”, é que se encontra viciada em um projeto de medo generalizado.

A questão mais capciosa é que contrariar este tipo de projeto implica reforçá-lo. Como se já não bastasse o reducionismo de romper com o passado para “antecipar” o futuro, corremos o risco de, no contramovimento, romper também com o futuro. Pois o que se perde nesta visão unilateral de projeto é o fato de o obstáculo à sua realização ser exatamente a condição de sua realização: se retirarmos o obstáculo, perdemos a própria intenção a ser realizada – ou, mais precisamente, se retirarmos o cerne da ambiguidade projetual (de antecipar e ao mesmo tempo fazer advir a si próprio), perdemos o próprio sentido do projetar. A saber, o sentido de duvidar antes de agir sobre questões transitórias ao invés de um ideal inacessível.
Importante esclarecer que “obstáculo” aqui não significa necessidade ou problema (os quais deixam de ser obstáculos na medida em que os qualificamos como tais), mas tudo aquilo que, em si mesmo, persiste em não servir para nada. Uma cadeira serve para “sentar” na mesma medida em que serve para segurar uma porta, para trocar uma lâmpada, para decorar a casa etc. A internet serve para nos conectar em “tempo real” com o mundo na mesma medida em que nos deixa olhando fixamente para uma tela colorida. Ou seja, se ainda atribuímos sentido e utilidade às coisas, é porque não conseguimos lidar com elas sem nos referirmos a nós mesmos, sem que os objetos e imagens que criamos ou dos quais nos apropriamos não dissessem, antes de tudo, o que somos e o que fazemos uns em relação aos outros.

Não servir para nada, entretanto, não é o mesmo que não existir. Com isso quero dizer que o engodo do projeto não é saber que ele se baseia em uma ilusão estrutural (um produto que só faz sentido dentro de um ritual arbitrário), mas sim tentar passar por cima dessa ilusão fazendo dela um obstáculo e colocando o próprio projeto em seu lugar. Exemplo claro é o projeto do espetáculo midiático: o que as celebridades representam é a glória e a intensidade de viver que estaria ausente da vida miserável das pessoas “ordinárias” (da qual efetiva e secretamente as celebridades fazem parte). A ilusão não é tanto a autenticidade performatizada pelas celebridades, mas antes o suposto caráter miserável da vida das pessoas.
Contra tal ilusão, nada mais há de arbitrário, está tudo ordenado num projeto unificado: como educar os filhos, como manter a vida sexual ativa, como cultivar a saúde física-mental-espiritual, como vencer no mundo dos negócios, como fazer amizades, como amar romanticamente e, enfim, como ser feliz e dar sentido à vida. A impossibilidade de estarmos minimamente integrados nesse grande e pretenso projeto é aquilo que o justifica, uma manobra iminentemente cristã em que a garantia de qualquer promessa reside em sua prévia frustração.

Não é de se espantar que, de forma cada vez menos controversa, se instalem verdadeiros parques de diversões enganosamente fora-de-projeto: da profusão de cultos evangélicos à delinquência urbana ou “engravatada”, do frenesi sexual e dos cuidados estético-corporais à multidão de pobres e ricos viciados em drogas, tudo se conjuga num estranho mal-estar em que todos já estão perdoados de antemão, mas nem por isso isentos de culpa. Sobretudo em iniciativas ditas “sociais” ou fora-do-eixo, envolvendo economia criativa e descentralização de poderes, há um projeto pressuposto e mal disfarçado cuja eficácia só existe na negação de um projeto regulatório e unilateral (sem o qual, portanto, tais iniciativas deixariam de ser eficazes).
Claro que a redução de tudo isso a um suposto “projeto” faz parte de uma interpretação que só faz sentido dentro de seus próprios termos. Porém, além de não haver interpretação que escape disso, devemos reconhecer que o próprio significado de “projeto”, por mais que varie consideravelmente entre engenheiros, médicos, economistas, designers etc., não cessa de projetar a si mesmo antes de definir qualquer coisa. Em outras palavras, já neste nível de definição, dizer que design significa projeto é como dizer que doce significa algo que é doce – pode parecer ingênuo para alguns, pode parecer pretensioso para outros, mas no fim das contas não diz nada.

Embora a seguinte afirmação possa também não dizer nada, ela pode nos ajudar a desatar o vínculo vicioso entre design e projeto: o design surge quando elementos dispersos começam a “ressoar em conjunto”. Quando associamos uma poltrona a um tipo de comportamento, ou uma marca a uma identidade, ou uma roupa a determinada ocasião, o design aparece nessas traduções e mediações sociais e não em cada objeto isolado. Sendo assim, a ideia de “projeto” – no sentido moderno de planejamento intencional voltado a um objetivo – é apenas um modo específico dessa ressonância entre elementos dispersos; só que design também envolve compor tais elementos em cadeias de articulação totalmente distintas da lógica projetual.
O mesmo vale para nossas condutas na vida social: podemos tentar seguir um projeto claramente imbricado nas relações e instituições sociais ou podemos negar este mesmo projeto, ou ainda podemos encará-lo como um jogo arbitrário (o que ele nunca deixou de ser) cujas cartas continuam ambíguas, em aberto e sem garantias. Esta última maneira de pensar não invalida ou substitui as primeiras – continuamos subordinados a dispositivos disciplinantes como empregos, constituições e escolas – e tampouco retoma o pensamento greco-romano do projectum.

O curioso é que este tipo de “pensar design” somente é possível lá onde o projeto não consegue chegar. Não é preciso ir muito longe, basta pensarmos em nossas relações mais corriqueiras, naquela dúvida inevitável sobre o que falar para começar um diálogo. Não há parâmetros ou medidas, cada palavre e cada ação “mede” todas as outras. O que se procura encontrar não é nada além de novas “procuras”, qualquer objetivo torna-se dispensável, alternamos os assuntos sem querer concluir nada. A motivação nem sempre é uma intenção, mas especialmente a superfície incerta de não saber “onde vai dar”.
O problema com os projetos modernizantes que a cada dia ganham mais força não é o fato de eles serem “projetuais demais”, mas de eles não serem suficientemente projetuais, ou seja, de não questionarem suas próprias pressuposições. Dito de outro modo, a questão parece intransponível: como projetar novos projetos quando o próprio projetar já se confunde com um permanente não-projeto? Desconfio, no entanto, que a resposta coincida com aquilo que considero a grande força e profundidade do design: ao invés de apenas materializar intenções previamente estabelecidas, o design nos permite reinventar constantemente, pela superficialidade das aparências, nossas próprias maneiras de intencionar, imaginar e materializar.
Em nossos melhores instantes, quando diante de um grande sucesso, quando mesmo o fazer mais enérgico é absorvido no deixar-ser e a rítmica do vivente nos porta espontaneamente, pode ser que se anuncie de repente a coragem como uma clareza eufórica ou como uma seriedade maravilhosamente serena em si. Essa seriedade desperta em nós o presente. Nele se eleva a lucidez de uma vez só ao nível do ser. Destemido e com clareza, cada instante toma seu espaço; tu não és diverso dessa clareza, desse frescor, desse júbilo. Experiências ruins se retraem diante das novas ocasiões. Nenhuma história te torna velho. As indelicadezas de ontem não obrigam a nada. Sob a luz de tal presença do espírito, rompe-se a via das repetições. Cada segundo consciente aplaca o que se deu de maneira desesperançada e se torna o primeiro passo de uma outra história. – Peter Sloterdijk, Crítica da razão cínica (São Paulo: Estação Liberdade, 2012, p. 712).








Comentários
Os comentários estão encerrados.