
Synecdoche, New York e a abundância do tempo despercebido
And when I’m buried and when I’m dead / Upstate worms will eat my hand / For every person that you know / Once you say, think you’ve seen / You won’t see them again / There’s always a last time / That you see everyone / There’s always a never again. – poema que abre Synecdoche, New York, cantado por Olive Cotard.
Foi em meados de 2008 quando estreou no cinema Synecdoche, New York. Eu ainda fazia faculdade, ganhava uma bolsa-auxílio irrisória que me permitia virar madrugadas lendo e, no dia seguinte, indignar-me contra a insistência do sono. Era uma fase de “tomada de consciência”, de um esforço ingênuo de desfazer-me das ilusões da consciência, da verdade, do capitalismo etc. Buscava pelo design decifrar o sentido oculto no sentido aparente, esforçava-me na filosofia em enxergar as coisas como elas são. Tal como numa trama de Palahniuk, eu oscilava entre consentir com o conforto programado e enfrentar as ilusões que nos distanciam de nós mesmos.
Digo isso porque foi a primeira vez que me questionei por que afinal nos colocamos neste dilema. Ou melhor: qual é o sentido de “despertar” e se manter consciente se eu continuar incapaz de lidar com as ilusões alheias, passando uma vida inteira trabalhando com “dignidade” sem nunca conseguir dar conta do fato de que tudo e todos serão perdidos? Eu tinha acabado de ler Signal to Noise (Gaiman e McKean) – conto sobre um cineasta que, ao saber que sofre de uma doença incurável, decide continuar trabalhando num grande roteiro até seu último dia de vida – quando fui ver Synecdoche, New York. Por conta do filme e da graphic-novel, redescobri um Nietzsche que eu lia e relevava na adolescência: ou se ama a morte na atitude mesma de aceitá-la, ou se padece de melancolia como esforço absurdo de negar aquilo de que é impossível escapar.

Mais difícil do que “desalienar-me” em busca de autonomia foi desmistificar o descontentamento e restaurar o sentido de minhas ilusões. Não porque estas fossem benéficas, mas porque, em última instância, alimentam-se de seu próprio cadáver. É como a médica que diz ao cineasta moribundo, em Signal to Noise, “você precisa nos deixar fazer os exames, você precisa nos deixar fazer o tratamento” e ele se recusa, sem contudo desistir de viver. Se ele se tratar, não poderá recuperar esta preciosa circunstância; se quiser cultivar tal circunstância, não pode se tratar. Escolher ficar com a circunstância, sobretudo a pior, é desconcertante, incomoda, mostra-nos aquilo que não gostaríamos de ver. Mas olhar para o incômodo não implica necessariamente consentir com melancolia que dele poderia se desdobrar. Às vezes nos permite enxergar beleza no limite visível da vida, talvez como se acostumar, e não mais menosprezar, com o silêncio, o “ruído branco” do mundo, o horizonte simples e direto que é a morte.
Ao contrário da crítica recorrente acerca de Synecdoche, New York, não acho que o filme trata da melancolia e autonegação de um suicida obsessivo. Evidentemente também não trata, como um Fight Club, de uma “tomada de consciência” contra todas as ilusões. Acho difícil falar sobre este filme porque ele me pareceu tão sutil e despretensioso quanto contundente: levou-me até uma porta obscura e me mostrou o que há para se ver por ali, como um convite a levantar uma questão que ninguém poderia levantar em meu lugar. Por isso acho deveras injustas todas essas resenhas que reduzem o filme a um suposto drama sobre “sentir-se morto sem saber que já se está”.
Se eu tivesse que sintetizá-lo numa sinopse, arriscaria dizer que sua ideia geral é a de interrogar o significado particular que cada um quer enxergar nele. Impreciso, claro, pois muitos são os filmes que se propõem a fazer o mesmo. Mas todas as vezes que eu o revejo impressiono-me com o choque mental e a necessidade que eu tenho de fazer mil anotações. Espero um dia conseguir ir mais fundo e encontrar uma expressão melhor, no sentido de mais digna e completa, para esta irredutível peça cinematográfica. Por enquanto, considero-a uma precisa e minuciosa hipérbole do idiossincrático percurso existencial de todos que buscam explicações para o que não tem.

I. Spoilers de uma vida como figura de linguagem.
Há muitas versões possíveis para se resumir Synecdoche, New York. Caden Cotard transforma sua própria vida numa ficção tentando com isso torná-la mais real e, ao chocar-se contra os limites de sua realidade particular, percebe que não existe uma única realidade possível, mas que cada ator/personagem constitui um mundo particular e, ao mesmo tempo, todos os mundos possíveis. Outra versão: diretor de teatro que sofre de inúmeras doenças elabora uma peça sobre si mesmo sob as lentes da Síndrome de Cotard – também conhecida como síndrome do cadáver ambulante, um delírio cujo principal sintoma é a ilusão de que se está morrendo ou de que os órgãos internos estão apodrecendo aos poucos –, chegando ao estado crônico de não viver o presente na medida em que o transforma numa peça megalomaníaca. Ou ainda: após ser abandonado pela esposa e filha, diretor de teatro adoece e procura expressar sua dor por meio de uma peça metalinguística e hiper-realista que, jamais apresentada ao público, torna-se abstrata e incompreensível.
Esta aparente disparidade de interpretações parece ser recorrente nas obras de Charlie Kaufman, que embora tenha dirigido apenas um filme, assina o roteiro de películas laureadas como Quero ser John Malkovich (1999), Adaptação (2002) e Brilho eterno de uma mente sem lembranças (2004). Em parte porque Kaufman explora, sem se ater a lógicas previsíveis ou recicladas, temáticas universais como o amor, a morte, a memória, o perdão e a aceitação/rejeição do outro. Mas acredito que é antes porque seus roteiros instauram um convite ao “mundo da ficção”, este mundo real que se desvela a cada um que se dispõe a decifrar e a reinterpretar a própria vida no espelho das narrativas e a partir dos questionamentos e escolhas que estas possam suscitar.
Em Synecdoche, Kaufman conta a história de Caden Cotard, um teatrólogo workaholic que sente um crescente mal-estar com a vida de um modo geral: consulta médicos regularmente, é hipocondríaco e tem o hábito de abrir o jornal apenas para conferir obituários. Sua esposa Adele, artista hiper-realista de pinturas em miniatura, prefere ficar em casa consumindo drogas com sua amiga Maria em vez de prestigiar a estreia da peça em que Caden vem trabalhando há meses. Após algumas seções de terapia de casal, onde Adele confessa fantasiar com a morte do marido, ela viaja para Berlim, leva consigo a filha de quatro anos, Olive, e pede a Caden para não acompanhá-la. Esperando por um retorno que nunca ocorrerá, Caden relaciona-se com Hazel, a bilheteira do teatro em que trabalha, e em seguida com a atriz Claire, com quem se casará mais adiante. Com ambas, Caden é inseguro e um tanto indiferente (não consegue esquecer Adele), a ponto de chorar na primeira tentativa de sexo com Hazel.

Após insistir a Caden que já havia se passado um ano desde que Adele tinha o deixado (ele pensava que passou só um mês), Hazel decide morar numa casa que literalmente nunca cessa de pegar fogo, onde conhece Derek (que morava no porão dessa casa), com quem se casará e terá cinco filhos. Caden mantém a terapia com a psicóloga do início – a figura mais enigmática do filme –, e começa a ler seus livros motivacionais. Tenta ligar várias vezes para Adele e, nunca obtendo retorno (a não ser uma mensagem incompreensível via fax), viaja algumas vezes para Berlim e descobre, na segunda viagem, que sua filha está com onze anos (para ele, Olive ainda tinha quatro anos), tem o corpo tatuado e vive com a mãe e com Maria numa família poligâmica.
Perseguindo constantemente os rastros de Adele – ainda que à distância, frequentando suas exposições e acompanhando notícias sobre sua ascendente carreira como artista plástica –, Caden começa a ver a si mesmo em propagandas e desenhos animados, desenvolve erupções cutâneas nas pernas, adquire mania por limpeza, perde a capacidade fisiológica de salivar e de chorar, sofre de espasmos e convulsões involuntárias. Acima de tudo, percebe cada vez menos o tempo passar.
Um ponto de virada se dá quando Caden recebe um prêmio em dinheiro aparentemente ilimitado, com o qual ele aluga um gigantesco armazém em Manhattan onde passará anos construindo e reconstruindo o que seria sua opus magnum: uma peça de teatro hiper-realista que retrate perfeitamente a realidade miserável em que ele vive e, por extensão, a existência humana como um todo. Tal pretensão explica a figura de linguagem contida no título do filme: “sinédoque” significa tomar a parte pelo todo e vice-versa, como uma experiência particular que traz em si uma experiência geral – o que também pode sugerir a imagem de Kaufman assumindo pela primeira vez a direção de seu roteiro, isto é, a de um artista tentando controlar sua própria obra.

Na primeira reunião com o elenco, Caden explica que tem refletido muito sobre a morte e que sua peça deverá alcançar uma “honestidade brutal” acerca da fatalidade da existência. Após os primeiros ensaios, Caden casa-se com a atriz Claire e tem com ela uma filha chamada Ariel – neste ponto, Claire ainda interpreta Adele na peça (adiante ela assumirá o papel dela mesma) e assim Caden vive uma cópia de seu casamento inicial: nunca repara a tatuagem enorme nas costas de Claire e confunde o nome da filha em atos falhos. Ao mesmo tempo, Caden acompanha os diários de Olive, sua filha “verdadeira”, e decide procurá-la novamente em Berlim, encontrando-a em seu local de trabalho (um peep show, strip-tease privado) e não sendo reconhecido por ela.
Passados dezessete anos após ter dispensado Caden, Hazel liga para ele pedindo emprego em seu novo projeto e logo se torna sua assistente principal. Em seguida, Caden conhece Sammy, um indivíduo obcecado que, por seguir secreta e rigorosamente os passos do diretor durante vinte anos, diz conhecê-lo mais do que ele mesmo. Sammy é então escalado para interpretar Caden num “primeiro nível”, uma vez que, no decorrer dos ensaios, outro ator será escalado para interpretar Sammy seguindo e interpretando o personagem de Caden. Isso porque a própria elaboração da peça é parte da vida de Caden e, portanto, parte da história a ser narrada pela peça, de modo que, com consecutivas participações canceladas e substituídas, toda a equipe de elenco vai sendo preenchida e ampliada por doppelgängers (duplos ambulantes).
A partir destes espelhamentos entre atores e seus personagens, mediados por pequenos bilhetes distribuídos por Caden, os acontecimentos se embaralham e se confundem tanto quanto a noção de tempo, que se “acelera devagar” (comentarei sobre tal antinomia no próximo tópico). Claire começa a interpretar a si mesma na peça e, no limite de uma vida cindida entre Sammy e Caden, abandona o casamento e a peça. Aos poucos, Sammy passa a atuar com maior autonomia, começando por revelar a Caden que Adele está hospedada em Nova Iorque, entregando-lhe o endereço e lhe dizendo: “quero ver como você se perde ainda mais de si mesmo”. Caden visita a exposição de Adele “Lack” (seu novo sobrenome) e vai até seu apartamento. Uma senhora lhe entrega a chave do apartamento pensando que ele fosse Ellen, a faxineira de Adele, e então Caden começa a limpar o apartamento de Adele com frequência, sem nunca encontrar-se com ela.

Caden recebe a notícia que sua filha Olive está no leito de morte e viaja para visitá-la. Por meio de um aparelho de tradução simultânea, escuta o que ela tem para lhe dizer, percebendo o quanto ela foi persuadida pela mãe de que teria sido ele que abandonou ambas por ocasião de um suposto caso homossexual com Eric, marido de Ellen (faxineira de Adele). Olive também revela sua paixão-idolatria por Maria, que a tatuou quando criança e a desvirginou, e diz que gostaria de ouvir, antes de morrer, seu pai pedindo-lhe perdão. Tomado pela debilidade da situação, Caden o faz, mas ela se recusa a perdoá-lo e morre. Adele entra em cena demonstrando desprezo absoluto pelo ex-marido que, incapaz de reagir à altura, chora com o auxílio de um colírio.
De volta à Nova Iorque, Caden se depara com Sammy tentando aproximar-se de Hazel, que aceita sair com ele para jantar. Em contrapartida, Caden transa com a atriz que interpreta Hazel, provocando ciúmes em Hazel (a verdadeira). Diante disso, Sammy percebe que jamais conseguiria ser Caden, sua razão de viver, e suicida-se. Hazel então declara seu amor à Caden, leva-o para cama pela segunda vez (depois de mais de quarenta anos) e, na mesma noite, morre asfixiada com a fumaça de sua casa em chamas. Ao deixar o corpo de Hazel no necrotério, Caden liga para a casa dela e deixa em sua secretária eletrônica a seguinte mensagem: “Eu sei como fazer a peça agora. Tudo terá lugar no curso de um dia… e este dia será o dia anterior à sua morte. Foi o dia mais feliz da minha vida. E eu serei capaz de reviver isso para sempre. Até breve”.
Sem Sammy, era preciso escalar um novo ator para viver Caden na peça. A atriz que interpreta Ellen se oferece para o papel, como uma inversão ao fato de que Caden se passava por Ellen para limpar o apartamento de Adele. Não demorará muito, pois, para Caden abdicar de sua função de diretor, precisamente na cena em que o velório de Hazel é reproduzido no galpão, quando a atriz que agora interpreta o diretor demonstra mais convicção na direção que o próprio Caden. O discurso do padre nessa cena revela a Caden que definitivamente não havia mais espaço na peça para uma única direção ou roteiro – era como se aquele ator enunciasse os pensamentos de Caden antes mesmo de Caden pensá-los. Reproduzo abaixo alguns trechos do referido discurso:

[…] Há um milhão de pequenos textos anexados a cada escolha que você faz. Você pode destruir sua vida cada vez que você escolher. […] E eles dizem que não existe destino, mas existe. É o que você cria. E mesmo que o mundo continue por eras e eras, você está aqui apenas por uma fração de uma fração de segundo. A maior parte deste tempo é gasto sendo morto ou ainda não nascido. Mas enquanto está vivo, você espera em vão, desperdiçando anos por um telefonema ou uma carta ou um olhar de alguém ou alguma coisa para fazer tudo certo. E isso nunca vem, ou parece vir mas não vem realmente. Então você passa seu tempo em vago arrependimento ou vaga esperança que alguma coisa boa virá adiante. Algo para fazer você se sentir conectado. Algo para fazer você se sentir inteiro. Algo para fazer você se sentir amado. E a verdade é que […] por muito tempo eu venho fingindo que estou bem, apenas para seguir adiante, apenas para… eu não sei por quê. Talvez porque ninguém queira ouvir sobre meu sofrimento. Talvez porque eles tenham os seus próprios.
Já com certa idade, Caden vive seus últimos anos fazendo o papel de Ellen no apartamento cenográfico de Adele, cumprindo passivamente as instruções da nova diretora da peça (a atriz que antes interpretava Ellen). Não fica claro o que ocorre fora do apartamento; o barulho de bombas e de palavras de ordem sugere algum tipo de revolta generalizada, talvez uma revolução dos atores e figurantes, talvez uma guerra externa que invade o armazém. Seja como for, Caden continua recebendo ordens por meio de um fone de ouvido (ou talvez por esquizofrenia), como se não houvesse nada acontecendo lá fora. Deste modo, totalmente isolado do mundo, as memórias de Caden se misturam com as de Ellen, aparentemente como se a diretora as estivesse narrando para Caden, que assim se apropria do passado da faxineira como se fosse o seu.
Vemos um piquenique em que Ellen, ainda criança, promete à mãe repetir o piquenique com sua futura filha. Também vemos o marido de Ellen, Eric, desapontado com ela e abandonando-a. Caden lembra-se de Adele lhe dizendo, no início do filme, que “todos são decepcionantes quando você os conhece de perto”. Ellen envelhece sem ter filhos, não cumprindo, pois, com aquela promessa do piquenique, desapontando a si mesma. Quando Caden finalmente sai do apartamento, ainda seguindo as instruções da diretora, depara-se com seu armazém em ruínas e diz: “Há os sonhos de cada um em todos aqueles apartamentos. Todos aqueles pensamentos. Eu nunca saberei. Essa é a verdade”. Ao caminhar pelo cenário, ele encontra a atriz que interpretava a mãe de Ellen (a que aparece na cena do piquenique). A voz da diretora lhe conduz para o fim.

O que esteve antes com você, um excitante e misterioso futuro, está agora atrás de você […] Você percebeu que não era especial. Você tem lutado por isso em sua existência e agora está deslizando silenciosamente para fora dela. Esta é a experiência de cada um. Os detalhes não importam. Cada um é cada um. Assim, você é Adele, Hazel, Claire, Olive. Você é Ellen. Toda a miserável tristeza dela é sua. Toda a solidão dela. O cabelo cinza como palha. As mãos dela, feridas e vermelhas. São suas. Como as pessoas que amam você e param de amá-lo, como se morressem, como se seguissem em frente, como se você as apagasse, como lhe apagaram sua beleza, sua juventude. Como se o mundo esquecesse você, como se você reconhecesse sua transitoriedade, como se você começasse a perder suas características, uma por uma.
II. A perspectiva de um tempo que se mostra ao passar despercebido.
A primeira cena do filme se passa às 7h44 da manhã, mesmo horário que encerra a última cena, conforme pontua o relógio desenhado na parede. Esta é uma importante senha do roteiro: entre uma cena e outra, sempre se passa muito tempo, algo como piscar os olhos entre um dia e outro, um ano e outro, uma década e uma vida inteira; mas também é como se o tempo não passasse nunca. Se por um lado este recurso (que consagrou a peça “Death of a Salesman” escrita por Arthur Miller em 1949) parece representar uma ode metalinguística do cinema como uma espécie de fluxo temporal que, para fluir, não se deixa notar, por outro, também parece cumprir com certa função “perspectivante” do enredo em questão: a finitude e a não reversibilidade das coisas, quando postas em perspectiva, é aquilo que as mantêm intactas, reversíveis e intermináveis.
No início do filme, estamos em setembro, mas logo quando Caden sai para conferir a caixa de correio vemos que já é outubro. Retorna para dentro de casa, abre a geladeira e, ao verificar que a validade do leite está vencida, percebemos que mais alguns dias se passaram. Caden volta sua atenção ao jornal, abre na página dos obituários, e já estamos em novembro. Passa-se para a próxima cena, Caden repete o gesto e vemos que o jornal já é de maio do ano seguinte. Assim as cenas do filme são articuladas; sem aviso prévio, os fatos não ocorrem sucessivamente, mas se “atropelam”, literalmente como um fluxo bergsoniano nunca suficiente para abarcar um passado cujo todo é contraído a cada instante. A ordem dos fatos, os diálogos e seus respectivos significados, pois, são muito menos importantes do que a forma como foram vivenciados.

Apressado seria deduzir com isso que Caden antecipa a própria morte a todo instante e assim desperdiça todas as experiências significativas. Sua angústia diante do tempo não é tanto a constatação da irreparável fuga dos dias, mas antes da não coincidência do tempo (enquanto experiência) consigo mesmo. De modo análogo, o tormento da perda não é somente que o ser amado seja uma breve imagem entre o existir e o não existir, mas acima de tudo que, na recorrência da perda, não há o que se apague por completo. Quer dizer, se o tempo passa despercebido para Caden, é menos por conta de uma nostalgia inacessível de um mundo fixo, perfeito e imóvel, e mais pelo esforço de perspectivar a si em relação ao tempo vivenciado.
A “fuga do Tempo” não significa somente que o tempo foge para longe de mim no passado, mas sobretudo que ele se apaga progressivamente sob meus passos no momento mesmo em que eu o percorro. O tempo não se retira após se ter dado, mas não se dá jamais: e a angústia diante do tempo, antes de ser um lamento diante do passado irrecuperável, é de início um drama da impossessão, renovado em todos os instantes da vida. – Clément Rosset, Le monde et ses remèdes. (Paris: PUF, 1964, p. 164, trad. minha).
Na citação acima, Rosset descreve o “logro romântico” de lamentar-se diante do tempo. Não creio ser este o drama de Caden, caso contrário o tempo não lhe passaria despercebido. A perspectivação do tempo operada em Synecdoche assemelha-me mais a uma “poética da exploração”, conforme descreve Roland Barthes em Mitologias e cujo exemplo é o Bateau ivre de Rimbaud, em oposição àquilo que o mesmo Barthes denomina “exploração da clausura”, exemplificada pelo submarino Nautilus de Júlio Verne. Esta última consiste em levar nosso barco, nosso baú de preconceitos, a qualquer lugar sem que o mesmo nos pareça estranho, diferente: o submarino Nautilus representa uma cosmogonia fechada sobre si mesma, um ambiente sempre familiar em qualquer lugar/tempo estranho onde se esteja.

A “poética da exploração”, ao contrário, seria a atitude de estranhamento em relação ao círculo fechado de nossas vivências, bem como ao mundo que desconhecemos e que nunca poderemos apreender em sua totalidade. É algo como a tríade “do olhar do geógrafo, do espírito do viajante e da criação do romancista” de que fala Paul Ricoeur no tomo I de seu Tempo e narrativa (Campinas: Papirus, 1994, p. 309): do olhar do geógrafo que não deixa escapar nenhum detalhe somado ao espírito do viajante que vai ao encontro do que lhe parece estranho, emerge a criação do romancista que, com o apuro das palavras, reorganiza a estranheza de sua experiência para que um leitor em potencial possa vivenciar, de modo semelhante, o encontro com o estranho.
No plano da linguagem visual de Synecdoche, a primeira característica que notei foi a predominância do verde. As roupas, paredes, o cocô de Oliva, o próprio nome Oliva. Reconheço nisso certo simbolismo da floresta, da selva, do pantanal, como se a percepção de Caden sobre o mundo fosse a de um lugar sempre desconhecido e ameaçador. Coisas e pessoas simplesmente aparecem e desaparecem a todo instante, de modo que, no decorrer das cenas, muitos detalhes nos escapam, assim como também escapam a Caden. Para ele, a realidade não se reduz ao que pode ser visto; o dado e o sentido são irredutíveis entre si. Ao mesmo tempo, Caden sabe que seu acesso ao mundo limita-se a seus sentimentos, pensamentos e sentidos. Sendo assim, seu esforço é o de compreender a si e ao mundo ao mesmo tempo em que os interpreta e lhes atribui sentido.
A maneira particular pela qual ele faz isso é a sinédoque, como modalidade de perspectivação do mundo. Adele perspectiva o mundo por uma escala extremamente pequena, enquanto Caden o faz com escalas incrivelmente grandes, como a “réplica” em tamanho real de Nova Iorque. Kaufman comentou que o trabalho de Adele vai se tornando muito mais eficaz artisticamente que o de Caden, cuja megalomania resulta de sua impotência em reaproximar-se de Adele. Mas essa “eficácia” de Adele, que lhe assegura certa distância aos olhos de Caden, não seria a mesma eficácia de um submarino Nautilus que se enclausura cada vez mais em si mesmo? Kaufman comenta também que o fracasso de Caden é que seu trabalho persiste em ser totalmente literal, enquanto a realidade sobre a qual ele procura refletir ou retratar nunca o é. Mas o que representaria maior literalidade além do gesto inaugural do rompimento modernista, preconizado pela exposição da bicicleta ready-made de Duchamp em paralelo ao quadrado preto sobre o fundo branco de Malevich? E Caden não visa precisamente captar a própria passagem entre esses dois extremos, do realismo dramatúrgico à abstração formalista de uma tela verde?

O que caracteriza alguns quadros do artista contemporâneo Gerhard Richter é a passagem súbita do realismo fotográfico a uma pura abstração de manchas de cor, assim como a passagem inversa, de uma mancha cromática para a representação realista. De modo semelhante, Caden parece concentrar-se naquele momento enigmático em que a imagem surge do caos ou, mais uma vez, o momento contrário: quando uma imagem clara e bem definida se desfoca em manchas sem sentido – como quando, ao reproduzir o diálogo de Claire com um desconhecido, Caden decide cobrir a cena com uma parede, tornando-a mais desfocada e ao mesmo tempo mais fidedigna.
Quando a atriz que interpreta Ellen toma o lugar de Caden na peça, ela o descreve como um homem que “vive num mundo pela metade, entre o imobilismo e anti-imobilismo, e o tempo é concentrado numa cronologia confusa […] para sua situação fazer sentido”, concluindo que ele já está morto. Embora o próprio Caden tenha concordado, seu novo assistente discorda dizendo: “Eu não vejo isso de forma alguma. Eu vejo muito mais que isso, vejo algo esperançoso”. Talvez este mesmo dilema esteja transposto na obra de Richter: o realismo fotográfico de seus quadros aparece como figura morta, imóvel, artificial, enganadora, ao passo que há muito mais “vida” na passagem para formas e manchas abstratas que surgem nesses mesmos quadros quando vistos/reproduzidos à distância ou de muito perto. Em A visão em paralaxe (2008, p. 206), Žižek comenta algo semelhante acerca da pintura de Richter:
É como se a intensidade confusa das formas não representativas fosse o último resto de realidade, de modo que, quando passamos dela para a representação claramente identificável, entramos no espaço-fantasia etéreo no qual a realidade se perde irremediavelmente. A mudança é puramente paraláctica: menos uma mudança do objeto do que uma mudança de nossa atitude perante o objeto visto.

Analogamente, talvez aquilo que em Synecdoche parece ser o excesso de algum delírio romântico que nega a realidade temporal seja o próprio lugar da inscrição compreensiva de Caden nessa realidade. Ao perspectivar suas experiências, ainda que literalmente, e com isso desconsiderar o desenrolar “normal” do tempo, Caden tenta reconhecer o verde sóbrio que sua vida recebe do olho que a observa – este ponto em que o olhar subjetivo se inscreve no mundo objetivo é o que Žižek denomina “paralaxe” propriamente. Mais adiante considerarei as consequências da não coincidência interpretativa que movimenta tal processo; por ora, resta-nos questionar por que é que o tempo é despercebido por Caden em seu esforço de perspectivar o mundo vivenciado.
Se recorrermos à tese bergsoniana sobre a memória, novamente a literalidade parece sobressair-se em Synecdoche. A recordação pura, segundo Bergson, não é uma imagem que se forma após a percepção de algum objeto, mas a imagem virtual que coexiste com a percepção do objeto, como um tipo de espelho subjetivo que se apodera do objeto para que este possa ser visto. Por conseguinte, o tempo só pode ser vivenciado como “movente” ao diferenciar-se segundo duas grandes vias: fazer passar o presente e conservar o passado. Para Caden, no entanto, estes dois aspectos temporais, o presente que passa e o passado que se conserva, mantêm-se totalmente indiferenciados entre si, cada qual prescrevendo o outro. Não é o passar do presente que define a realidade de Caden, e sim a atualização literal do passado em cada instante seguinte.
Logo, se Caden literalmente não percebe o tempo passar, e se o mundo objetivo depende da coexistência constante de uma recordação pura, o esforço de Caden para perspectivar suas experiências é, ao contrário do que apressadamente se supõe, plenamente eficaz em atualizar, no sentido de reorganizar e de fazer aparecer, o mundo vivido. Sua angústia perante o tempo, portanto, não é tanto a de uma queixa em relação a um “significado pleno” que suas experiências, apesar de plenamente atualizadas, não lhe oferecem. Sua maior angústia decorre da coexistência de durações que não confere reversibilidade ao tempo vivido, é a angústia da não coincidência de um passado que para ele literalmente nunca deixou de ser presente.

É como se houvesse uma falha no fluxo presente que deveria ser contínuo e linear mas não é – falha esta que muitos apontam na “continuidade” da edição do filme. Somos levados a questionar, com Caden, por que queremos ver tal ininterrupção. Contrariando a tese bergsoniana da continuidade, Bachelard postula a existência de lacunas na duração, dado que a vida é vivida numa pluralidade de durações que não têm nem o mesmo ritmo, nem a mesma solidez de encadeamento, nem o mesmo poder de atualização. Em Deleuze isso aparece pela noção de que passado e presente se concatenam no presente, sempre pela via diferencial; em Paul Ricoeur, vemos que o próprio desenrolar do tempo se produz no terreno do imaginário, cuja descontinuidade conjuga-se em redundância. Ou seja, assim como é preciso esquecer para que a memória lembre e é preciso lembrar para saber que esquecemos (um só existe com o outro), a continuidade temporal que reconhecemos e esperamos ver no mundo somente existe em contrapartida à descontinuidade, à assincronia e à finitude que se interpõem em nossa relação com o mundo e que, em última instância, são inerentes à nossa existência nele.
Talvez por isso que Caden diz no início de seu grande projeto que cada pessoa acredita secretamente que não vai morrer. Não se trata de defender qualquer tipo de consciência espiritual; pelo contrário, trata-se de explicitar a eufemização da angústia como processo básico de produzir continuidade e situar-se no mundo. De acordo com Gilbert Durand, tal processo é operado pelo imaginário, seguindo três estratégias elementares: a heroica (de combate), a mística (de inversão) e a dramática (de reconciliação). A primeira delas é evidente no próprio projeto teatral de Caden, por onde ele tentará perspectivar sua angústia e assim dominá-la, o que adquire maior dinâmica quando ele se depara com sua “sombra” (Sammy) num embate paradigmático do “conhece-te a ti mesmo”. A estratégia mística aparece quando Caden, ao assumir o papel de Ellen, infiltra-se no apartamento de Adele e, no repouso da noite, inverte sua vontade de controlar e sente prazer em servir, invisível e silenciosamente. Por fim, a estratégia dramática ocorre claramente na reconquista de Hazel, que antes de morrer asfixiada enuncia que seu fim foi escolhido no começo, sinédoque para cada escolha que ressoa ao longo de nossas vidas.

É por este trajeto descontínuo que Caden lida com seu curto-circuito constante entre o desejo de permanência e a consciência do fim. Perspectivar a existência, duvidando de sua irreversibilidade e tentando manter entre parêntesis a passagem entre o realismo literal e a fantasia sem sentido é a obsessão de Caden Cotard, ao mesmo tempo sua fonte de angústia e promessa de salvação. Se ele não percebe o tempo passar, não é por manter-se preso ao passado ou por antecipar a todo instante a morte futura; o tempo lhe passa despercebido porque Caden só se atém ao presente. E isso a partir de uma manobra particular de perspectivação, a saber, pela sinédoque que produz o distanciamento necessário à experiência de objetividade e que se constata, contudo, a conciliação impossível da realidade com a descrição que se faz dela.
III. O problema do script cuja leitura precede sua escrita.
Antes de comprar a casa eternamente em chamas, Hazel confessa ter medo de morrer queimada lá dentro, mas logo se deixa levar pela corretora que lhe responde: “esta é uma grande decisão de como se prefere morrer”. Houve aqui uma interpretação (adaptada de um célebre texto de Tennessee Williams) que prescreve e é prescrita por uma nova compreensão, vale dizer, tornando-a objetiva, orientando seu sentido, sua legitimidade e seus efeitos. Esta implicação da interpretação é a segunda chave que julgo importante em Synecdoche: se o conhecimento de si mesmo já é uma interpretação, uma vez que só compreendo a mim mesmo pelos sinais de minha própria vida refletidos pelos outros, o que eu sou para mim mesmo só pode ser experimentado através das objetivações que faço sobre mim através de sinais, de obras, de mediações enfim.
A questão da compreensão de si ocupa um lugar de destaque em Synecdoche, mas não como centro de gravidade subjetiva, como no romantismo literário, e sim como deslocamento em direção ao mundo objetivo. É deste modo que Caden vê a si mesmo refletido em pessoas e atores que lhe são cada vez mais estranhos, como quando o padre pronuncia os pensamentos de Caden antes mesmos de serem por ele pensados. Não se trata apenas de desvendar-se a si mesmo, mas de reconhecer-se inserido no reflexo de um mundo que o “eu” abre e descobre no movimento mesmo de tentar compreender o outro. Com efeito, a problemática da perspectivação do mundo adquire no filme um valor muito maior que o de um caso epistemológico particular de compreensão, tornando-se um paradigma ontológico próprio do ser no mundo.

Como vimos, a perspectivação de mundo operada por Caden situa-o no mundo ao mesmo tempo em que lhe angustia por explicitar a não coincidência entre o mundo por ele vivido e o mundo por ele descrito/interpretado. Para analisar tal problemática, parece-me imprescindível recorrermos a alguns pressupostos da hermenêutica, aqui entendida como teoria da compreensão em sua relação com a interpretação dos textos, sobretudo sob o viés personalista do hermeneuta Paul Ricoeur – para quem a compreensão não implica um simples modo de conhecer e interpretar o mundo e a si mesmo, mas antes de tudo uma maneira de ser e relacionar-se.
O primeiro pressuposto, conforme antecipei acima, é o de que toda experiência e toda existência são relações com o mundo vivido e, portanto, afirmam-se como interpretação. A interpretação é uma explicitação da compreensão por meio de algum enunciado – que, por sua vez, confere à compreensão uma expressão que tende a modificá-la. O que está em jogo na interpretação não é a forma do enunciado (como é para a retórica), nem tampouco seu sentido (como é para a semântica), mas sua repercussão, seu poder de redescrever a coisa interpretada. Tal repercussão define-se pelo valor próprio da interpretação (como contrapartida à inelutável polissemia compreensiva), pelo ato de enunciar que produz diferença no que é enunciado.
O personagem Sammy acentua-se pelo intuito de compreender um autor (Caden) mais do que este autor se compreende. O que lhe angustia não é o fato de não conseguir fazer isso, mas justamente o de fazê-lo e nem por isso conseguir compreender-se a si e ser compreendido. Quero compreendê-lo como analogia ao fato de que o sentido e a referência de uma interpretação, sobretudo a de si mesmo, não reside na subjetividade de quem interpreta, tampouco na objetividade do que se procura interpretar. O sentido e a referência da interpretação objetivam-se na própria interpretação, donde decorre que uma individualidade só pode ser “apreendida” por comparação e por contraste, na diferença que se dá na própria tentativa de apreensão.

Se Caden jamais consegue transformar sua vida em obra acabada é porque tal empreitada visa reproduzir (por meio de um conjunto estruturado de signos, os que são fixados pela escrita ou por qualquer procedimento equivalente) um encadeamento interminável, um dinamismo que estrutura a si mesmo. Mais precisamente, este fracasso arquitetural se deve ao fato de que a pergunta epistemológica do “como conhecemos?” (que se desdobra em como compreendemos, interpretamos, reproduzimos, traduzimos etc.) procede de uma questão ontológica anterior, aquela que versa sobre este modo de ser que só existe compreendendo. É com esta interrogação de uma “ontologia da compreensão” que devemos retomar o problema da perspectivação de mundo que explicita a não coincidência entre o mundo vivido e o mundo descrito/interpretado.
Diante da questão sobre qual é o sentido do “ser”, somos conduzidos por aquilo mesmo que procuramos. Podemos descrever o ser ou a experiência de ser como não imediata e, embora ciente de si, que não conhece a si mesma, sendo sempre mediada pelas figurações simbólicas em sua redundância estrutural – o que não responde à questão, fazendo sentido somente enquanto se é na situação mesma de ser. Em suma, podemos já saber como é o ser, mas persiste a não coincidência entre explicar e compreender, entre ser e ver-se sendo. Em seu Ser e tempo, Heidegger responde a este dilema ontológico por meio do conceito de Dasein como sendo o lugar onde a questão do ser surge, o lugar de sua manifestação. Este lugar não é outro senão o próprio mundo em que o ser aparece, mais precisamente na relação do ser com este mundo. Significa que qualquer compreensão que eu possa ter estará sempre implicada na situação em que me reconheço “sendo”, na compreensão fundamental de minha posição enquanto ser-no-mundo.
Ao mundanizar, assim, o compreender, Heidegger o despsicologiza. Esse deslocamento ficou inteiramente desconhecido nas interpretações ditas existencialistas de Heidegger. As análises da preocupação, da angústia, do ser-para-a-morte foram tomadas no sentido de uma psicologia existencial requintada, aplicada a estados de alma raros. Não se deu a devida atenção ao fato de essas análises pertencerem a uma meditação sobre a mundanidade do mundo e de pretenderem, essencialmente, arruinar a pretensão do sujeito cognoscente de erigir-se em medida da objetividade. O que se deve precisamente reconquistar, sobre essa pretensão do sujeito, é a condição de habitante desse mundo, a partir da qual há situação, compreensão, interpretação. – Paul Ricoeur, Hermenêutica e ideologias (Petrópolis: Vozes, 2013, p. 40).

Talvez possamos partir deste comentário de Ricoeur sobre Heidegger para inferir que aquilo que aparece como “angústia” em Synecdoche é, para todos os efeitos, o esforço de Caden em habitar o mundo, em reconhecer na mundanidade do mundo sua situação de ser. Antes de compreender a vida, interpretá-la e orientar-se nela, Caden tem a necessidade de encontrar-se e de situar-se no mundo. Se Heidegger explora a fundo certos sentimentos como o medo e a angústia, não é sob o viés existencialista (como o de Sartre e Jaspers, em que o ser constrói-se sobre o nada), mas sob um viés hermenêutico que busca em tais sentimentos um lugar privilegiado onde se rearranja a compreensão. De modo análogo, o angustiante empenho de Caden não se dirige à apreensão de sua existência como fato dado, mas à de uma possibilidade de ser mediante o que já é.
Deste ponto de vista, a inconciliável passagem entre explicar e compreender mostra-se não mais como um problema, mas como ressonância de uma tarefa, a tarefa de mediar. Compreender o mundo (a vida, a si mesmo etc.) não é descobrir um sentido inerte que estaria nele contido, mas revelar a possibilidade de um sentido a partir da mediação de sentidos (um texto, uma peça de teatro, um símbolo religioso etc.). Do mesmo modo, se uma interpretação de mundo nunca coincide com o mundo, mas reorganiza a compreensão que fazemos dele, essa interpretação prescreve uma nova compreensão que, por também não coincidir nem com o mundo nem com a interpretação que a prescreve, serve como prescrição de outra interpretação. Logo, o problema da não coincidência entre o compreender (mundo vivido) e o explicar (mundo descrito/interpretado) ocorre porque a perspectivação do mundo não se dá no mundo em si, mas nas mediações que nele nos situam, mediações estas que se movimentam neste ciclo entre compreender e explicar.
Desta feita, podemos analisar com mais clareza o aspecto mais dialético e paradoxal da sinédoque enquanto manobra de perspectivação, a saber, o projetar que há na mera reprodução. Mais uma vez, não se trata da conduta existencialista de um vir-a-ser que se edifica a partir do nada-ser – “uma pequena expressão separa Heidegger de Sartre: sempre já”, alerta-nos Ricoeur (idem, p. 41). Sob a ontologia da compreensão de Heidegger, o ser está sempre já projetado ao mesmo tempo em que permanece lançando-se a projetar-se, de modo que o problema da responsabilidade e da livre-escolha, que é caro ao existencialismo, apareça tão somente circunscrito ao ciclo da situação-compreensão-interpretação. Neste sentido, o projetar que se dá na perspectivação do mundo, em especial pelo recurso da sinédoque, não transforma o ser (e sua relação com o mundo) em outra coisa, mas o reproduz “em escala” para paradoxalmente fazê-lo tornar-se ele mesmo.

Lógica semelhante é exposta por Heidegger nos termos do “círculo hermenêutico”: ao buscar o sentido nas coisas percebemos que somos nós que, reciprocamente, atribuímos sentido às coisas. Aquilo que nos leva “para fora” neste processo, aquilo que nos impele do lugar tranquilo e previsível de nossos pré-juízos, é curiosamente também o que nos remete “para dentro”, de modo que é somente no mais estranho, no mais ameaçador e no mais distante que o “eu” reconhece a si mesmo. Da mesma forma, perspectivar o mundo e a si mesmo em relação ao mundo implica tanto um distanciar-se quanto um retornar ao mundo e a si mesmo. Neste processo, a linguagem empregada, o sentido referencial e a articulação discursiva de enunciados lógicos submetem-se de antemão à explicitação sem fim do situar-se no mundo, sobretudo por um caminho irregular, com recuos temporais, errâncias, desnorteamentos e descontinuidades.
E se ainda há quem identifique algum tipo de “alienação” na maneira como Caden busca situar-se no mundo, não me contenho em apontar a influência de certos discursos correntes segundo os quais a “consciência histórica” deve prescrever qualquer consciência de si, como se a história e o indivíduo pudessem conjugar-se numa síntese final (à maneira hegeliana) ou em qualquer coisa de “absoluto” que finalmente os justifiquem. De acordo com tal enunciado, uma interpretação somente seria legítima caso ela seja crítica, isto é, como efeito da “autonomia” de um sujeito capaz de emitir opiniões sobre tudo, mantendo assim seu pretenso posicionamento ativo perante o mundo. Caden jamais se situaria no mundo por meio deste tipo de obsessão que, por denunciar toda forma de distanciamento alienante, contém em si um princípio de alienação absoluta, a saber, o de que o mundo não existe sem um significado próprio ou inventado.
Mas Caden sabe que não importa o que queremos ver nas coisas, elas continuam existindo e deixando de existir sem qualquer significado que as justifiquem. Diante de tal insignificância do mundo, há certa eficácia no distanciamento de Caden, eficácia para um sentimento de pertença em relação ao mundo. Ou aquilo que Ricoeur qualifica como “proximidade do longínquo”, isto é, a antinomia de um mundo como situação suficiente em si e por isso mesmo susceptível de abrir-se e ampliar-se. Caden distancia-se do mundo, dos outros e de si mesmo como maneira de situar-se em favor da conciliação entre horizontes, perspectivas e interpretações, conciliação esta que não se fecha numa obra pronta e acabada, mas que se abre numa obra que, por não pertencer mais nem ao autor nem aos atores-personagens, lhe devolve o sentimento de pertença em relação ao mundo. Assim, é por meio deste círculo de distanciamento-rumo-ao-retorno que Caden opera a perspectivação que o coloca diante do mundo, no confronto contínuo entre ser e ver-se sendo.

Caso eu tenha esclarecido tal aspecto, será pertinente determo-nos ainda numa última questão: como interpretar o que já se sabe insignificante? A princípio, apenas rearranjando novas configurações de sentido, de mediações já conhecidas, mas isso não é tudo. Se por um lado todo sistema de mediação, como um código ou a própria língua, é virtual e distendido no tempo, por outro, toda interpretação realiza-se temporalmente no presente. É a interpretação, pois, que transforma o insignificante em acontecimento, em mediação de significados, mas ela só o faz quando mediada por alguma obra que traga em si o “mundo do texto”, noção amplamente desenvolvida por Ricoeur em A metáfora viva e Tempo e narrativa. O mundo do texto define-se por sua autorreferencialidade e sua autotemporalidade, seja com base na intriga (no caso do discurso narrativo) seja a partir da metáfora (no caso do discurso lírico), suspendendo assim o caráter descritivo da interpretação em proveito de outra função, a de redescrição do mundo.
É curioso observar como Caden constrói um mundo do texto pela sinédoque, que não é mera imitação, réplica ou duplicação, mas justamente a reprodução literal do todo pela parte ou vice-versa. O poder de redescrição da sinédoque parece residir precisamente na transição entre a configuração simbólica no mundo do texto e a reconfiguração do situar-se no espaço e no tempo do mundo. À esteira do fato de que o Dasein, retomando Heidegger, somente existe como poder-ser, como gesto retroativo de lançar-se e incluir-se onde já se está, Caden projeta diante de si um mundo fictício de que ele possa se apropriar e construir sua morada. No entanto, não se trata de um mundo retocado, idealmente distorcido e “corrigido”, mas, a princípio, de uma reprodução literal do mundo vivido. Só que a literalidade reside apenas na reprodução daquela parte selecionada que, sob o mecanismo da sinédoque, traz em si o todo daquilo a que se refere.
O resultado da sinédoque, portando, ao invés de contentar-se com uma reprodução literal, reside na apropriação de algo que não é a referência perdida do autor atrás ou fora do texto, mas o próprio mundo diante do texto, aquilo que Caden expressa por “a fala ainda não dita”. Tomemos, por exemplo, a sentença “em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive” (Ricardo Reis): o brilho da lua em cada lago não reproduz literalmente a lua, tampouco calcula sua altitude exata, mas projeta na superfície do texto uma parte literal cuja autossuficiência tem o poder de redescrever, reconfigurar e redimensionar o todo de que fora destacada (a altura que separa a lua dos lagos que a refletem). Sem a articulação interpretativa diante do texto, com efeito, nossas experiências permanecem mergulhadas na especulação silenciosa e imprecisa da subjetividade. No caso de Caden, a réplica do mundo por um armazém cenográfico não é apenas um recurso subjetivo que o obriga a perceber o tempo que lhe passa despercebido, é antes uma maneira de objetivar o tempo pelo espaço, numa sinédoque da aporia de Ricoeur de que o tempo narrativo cria o espaço.

[…] pensemos somente na desproporção entre o breve tempo dos mortais e o grande tempo dos movimentos siderais. Mas a desproporção não é apenas quantitativa, mas qualitativa, entre um tempo com presente, futuro, passado – em outras palavras, um tempo estruturado pela atenção, pela antecipação, pela memória – e um tempo sem presente, constituído por uma sequência infinita de instantes que não passam de cortes virtuais na continuidade da mudança. Essa aporética do tempo, como a denomino, constitui a meu ver a transição mais importante da configuração interna da narrativa para a refiguração do espaço pela narrativa. Não que a narrativa à medida que se desenvolve resolva os paradoxos do tempo. Pelo menos os torna produtivos. – Paul Ricoeur, Escritos e conferências II: hermenêutica (São Paulo: Edições Loyola, 2011, p. 34).
O tempo torna-se “produtivo”, como pontua Ricoeur, porque o próprio trabalho narrativo de distanciamento do mundo revela um desejo profundo de vencer uma distância, aquela de uma situação vivida como alheia, estranha ou apenas despercebida e que assim pode ser reapropriada, isto é, transposta a uma compreensão presente. Neste ínterim, o tempo presente vivido por Caden não é negado, mas constantemente deslocado de um nível subjetivista para um plano ontológico: seu presente está entre o tempo que passa despercebido e a duração aberta pelo mundo do texto. Tal transição é ontológica porque compreender a si mesmo diante do texto, em face do mundo do texto, implica expandir o horizonte das maneiras de ser-no-mundo.
Deste modo, o poder da sinédoque procede como reprodução criadora de realidade. Mas se é verdade que a narrativa cria um mundo, é antes, e depois, para servir ao engajamento, à reaproximação, ao retorno ao mundo em si, o único que existe, que assim é redescoberto ao mesmo tempo em que o indivíduo descobre a si mesmo inserido nele. Não existe interpretação que não termine em algum tipo de apropriação; e aquilo de que nos apossamos, que tornamos nosso, não é a experiência fantasiosa de um reino distante, mas nossa própria situação diante da vida aqui e agora. É com base neste pressuposto que a hermenêutica de Ricoeur não submete a interpretação às limitações de compreensão do leitor, tampouco põe a significação do texto em poder do sujeito que o interpreta, mas em vez disso a eleva como via ontológica pela qual a descoberta de novos mundo (modos-de-ser) confere ao sujeito a possibilidade de se (re)conhecer.

Por que os poetas escrevem tragédias, compõem fábulas e usam palavras “estranhas” tais como as metáforas? Porque a própria tragédia se liga a um projeto mais importante: o de imitar as ações humanas de uma maneira poética. Com essas duas palavras-chave – mimèsis e poiesis – chegamos ao nível a que chamei mundo referencial da obra. […] De um lado, ele exprime um mundo de ações humanas que já está aí; o objetivo da tragédia é exprimir a realidade humana, a tragédia da vida. Mas, por outro lado, a mimèsis não significa a duplicação da realidade; mimèsis não é cópia; mimèsis e poiesis querem dizer fabricação, construção, criação. […] Não poderíamos, então, dizer que a mimèsis é a palavra grega para o que chamamos referência não ostensiva da obra literária ou, em outros termos, a palavra grega para a abertura/descoberta do mundo? – Paul Ricoeur, Escritos e conferências II: hermenêutica (op. cit., p. 89).
Se até aqui insisti em elucidar esta manobra hermenêutica de reprodução (mimèsis) como redescoberta, redescrição e mesmo reinvenção, foi para sublinhar que não vejo na obra de Caden um movimento de fuga ou negação da realidade. Longe de ter domínio sobre sua situação de ser-no-mundo para partir dela como a priori de sua compreensão das coisas (também conhecido como “preconceito”), Caden parece querer afirmar a realidade justamente por aquilo que lhe impede de conhecê-la plenamente. A questão da morte, da finitude e da fatalidade é a única que aparece para ele como certa, de modo que todas as outras “partes” – os acontecimentos, os pensamentos, a perda, o espetáculo – estão ligadas a essa questão como meios, condições ou mesmo execução da obra do viver-para-morrer. Não podendo ser experimentada, contudo, senão como ficção, tal tragédia tem sentido e referência próprios somente se contrastada à vida, como sua reprodução literal que torna precioso cada minuto como “parte” maior que o “todo”.
Claro que a questão da morte, sobretudo como fonte de significação à vida, nunca foi nenhuma novidade; então por que continuamos a pensar nela, atribuindo-lhe mil novas roupagens, se não há nada de novo a dizer, nenhum mundo novo a projetar? Porque há poetas como Charlie Kaufman que reconhecem no poder da imaginação não mais a faculdade de extrair “imagens” da experiência sensorial, mas a capacidade de deixar que novos mundos reconfigurem a compreensão de nós mesmos.

IV. O pequeno palco que comporta um mar de atores invisíveis uns aos outros.
Os heróis da epopeia arcaica vencem ou, se são vencidos, conservam a grandeza até o último suspiro. Já os personagens romanescos, a exemplo de Dom Quixote, não pedem para ser admirados por suas virtudes; querem que os compreendamos, o que é muito diferente. O que há para se ver em personagens “sem qualidades” não são os motivos pelos quais tiveram a coragem de arriscar a vida, mas as pequenas escolhas, perdas e desistências de que se lembram na hora de dormir. Em Synecdoche, em especial, deparamo-nos com uma quase “virtude do perdedor” de quem é capaz de abandonar algo, seja um ideal que se almeja alcançar, seja o trauma de não tê-lo alcançado. Em que medida o abandono é virtuoso? Na medida em que enxerga beleza, ainda que por um instante, mesmo que por acidente, em um mundo que é mais afeito às baratas do que aos humanos.
O triângulo entre Caden, Claire e Hazel expressa precisamente este tipo de virtude. De um lado, Caden tenta substituir seu casamento fracassado com Adele casando-se com sua melhor atriz, Claire, que fica invisível para ele na mesma medida em que só consegue olhar para si mesma. De outro lado, Hazel se debruça na janela kafkiana após o insuperável remorso mediante o choro de Caden na primeira oportunidade que teve de levá-lo para cama. Só que o único momento do filme em que Caden demonstra alegria, ainda que por um instante, é quando ele finalmente faz sexo com Hazel, na mesma noite em que ela morre. No decorrer das décadas que nos levam a este ponto, muita coisa teve de ser abandonada, mesmo que involuntariamente, tanto por Caden quanto por Hazel.
Não que Caden tenha se resignado com o que lhe restou; pelo contrário, ele conseguiu perceber, com o olhar translúcido de quem finalmente não deve nada a ninguém, a exuberância de um presente que sempre esteve ali, presente. O que então dizer de Adele, que desde o início só tinha olhos para sua amiga Maria? O nome “Adele” é um virundum (homofonia) para “a delicate art”, ao passo que Caden Cotard parece sugerir “decadent art”. Enquanto ele procura compreender a vida dissecando-a em sua crueza, em sua decadência e fatalidade, Adele parece preferir “retocar” o mundo reproduzindo-o em miniatura, ou seja, selecionando apenas os traços que lhe convêm. Isso me pareceu evidente logo no início do filme, quando Caden fala de vasos sanguíneos ao explicar o que são “canos” para sua filha, que fica nervosa porque não queria ter sangue no corpo e, então, Adele censura o marido e acalma Olive dizendo-lhe “não se preocupe querida, você não tem sangue”.

Ademais, há uma cena em que Caden vai ao prédio onde Adele fica hospedada em Nova Iorque e aperta o interfone no qual lemos, abaixo do número do apartamento dela (31-Y), a palavra “capgras”. Síndrome de Capgras é um transtorno psiquiátrico caracterizado pela ilusão de que algum conhecido, normalmente um cônjuge ou outra pessoa próxima (irmãos, filhos, amigos), foi substituído por um impostor idêntico a ele. Esta estranha referência me leva a crer que aquela antiga fantasia de Adele de imaginar seu marido morrendo, antes de ela se mudar para Berlim com a filha, era sintoma de um delírio iminente de que a pessoa com quem ela se casou teria sido trocada por um desconhecido. Com efeito, foi demasiado frustrante para Caden descobrir que Adele e sua filha o culpavam de um abandono que, em verdade, nunca partiu dele. Por conseguinte, vemos este transtorno ecoando também no trabalho de Caden, onde pessoas são substituídas por atores o tempo todo e, ao final, ele próprio substitui e é substituído pela faxineira de Adele, de quem escuta instruções pelo fone de ouvido.
A história, oriunda do tempo e do movimento, está condenada à autodestruição […] Tudo que o homem empreende volta-se contra ele. Toda ação é fonte de infelicidade, pois agir contraria o equilíbrio do mundo; é estabelecer um objetivo e projetar-se no devir. O menor movimento é nefasto. Detonam-se forças que podem ser esmagadoras. Viver realmente é viver sem objetivo. – Emil Cioran, Entrevistas (Porto Alegre: Sulina, 2001, p. 21).
De fato, Caden é uma pessoa angustiada. Mas o que quer dizer a sua angústia? De um modo geral, Caden parece interrogar-nos a todo instante qual a utilidade da arte, de que adianta sentir e qual a função do pensamento se não podemos lidar com a morte, com o amor e com certas escolhas que tomamos ao longo da vida. Sua angústia quer nos dizer, pois, que não há nada de nobre em nossa existência, nada do qual possamos nos orgulhar, uma vez que somos seres contraditórios, cruéis e insensíveis uns aos outros – o que não nos impede, e este é o ponto, de também sermos sensíveis, inventivos, amorosos e, sobretudo, simbólicos. Não conseguimos enxergar nada sem o crivo dos símbolos, das representações, dos significados. Caden sabe e insiste no fato de que tudo isso que vemos, tudo isso que tem algum significado, que nos faz ter medo, que nos motiva a ser pessoas melhores, que nos dá a ilusão de caminhar para algum lugar… tudo isso é representação.

Só que não há nada sendo “representado”, não há uma verdade que serve de referência à representação. Essas representações só representam a si mesmas e isso é tudo o que temos. Logo, ao contrário de um suicida, que entre o nada e uma vida de sofrimentos opta pelo nada, Caden mantém-se diante de uma porta entreaberta sem nunca ultrapassá-la, pois sabe que não há nada por trás dela. Em uma entrevista, Kaufman fez questão de explicitar esta situação: “while Caden believes he is dying throughout the film, he is in fact the last of the people he cares about to die”. Por conseguinte, não faz sentido dizer que Caden, além de angustiado, é pessimista: embora não acredite que as coisas possam melhorar, também não acredita que as coisas possam piorar, pois para isso deveria haver algum momento em que as coisas já foram melhores.
Entre o prazer e o sofrimento não há escolha, somente o acaso dos encontros e a redundância das representações, somente movimento. Caden angustia-se com o movimento ininterrupto da vida e, antes, com sua incapacidade de sentir tal movimento. Ele não sente as coisas durarem ou desaparecerem e espanta-se com as mudanças que de repente lhe ocorrem. Desconfia delas, mas não as nega. Diante da impossibilidade de um real sem representação e de um si mesmo sem o olhar do outro, Caden afirma a vida indiretamente ao reproduzi-la obsessivamente num ensaio sobre a morte que jamais deixa de ser apenas isso, um ensaio. Não porque a realidade seja pouco perante a ilusão que se faz dela, mas o contrário, porque nenhuma ilusão é suficiente para substituir ou melhorar uma realidade em que “cada existência particular reflete todas as outras”.
Caso a história ainda soe melancólica para alguns, proponho, a título de exercício, imaginarmos um final ligeiramente diferente. Caden abre os olhos na penumbra do apartamento de Adele e volta a exalar um odor insuportável que, logo se dá conta, é de sua própria urina acumulada na cama. A diretora costuma mandar alguém para limpá-lo, mas hoje parece ter esquecido. E Caden sabe que, assim que ela lembrar, o humilhará com todo tipo de injúria – “por que você não morre logo antes de se borrar todo de novo?”. Malditos fones de ouvido. Caden não consegue mais removê-los. Aliás, não consegue fazer mais nada, nem mesmo suicidar-se. Nunca a morte lhe pareceu tão difícil. Não lhe resta outra opção além de continuar deitado, imerso naquele colchão azedo e aflito com os jovens que uma hora ou outra aparecem para culpá-lo de sua condição fétida, dia após dia.

Perdoem-me a hipérbole de mau gosto, mas acredito que esta é uma angústia totalmente comum, embora amplamente ignorada, de todos aqueles que se encontram, como Caden, abandonados por seus entes queridos. A isso se soma o fato de que não sabemos o que significa envelhecer num mundo em que o idoso é um ser invisível, num mundo que endeusa o futuro (os mais jovens) e onde ninguém escapa da vergonha de não desaparecer ao atingir seu “prazo de validade”. Honestamente acho que não vale mais a pena viver se não há qualquer dignidade possível do envelhecimento.
Seja como for, não é este o foco de Synecdoche, ao menos não diretamente. Acho importante frisar que a angústia de Caden não é tanto por ele mesmo, mas principalmente por constatar que cada pessoa ao seu redor não escapará, uma hora ou outra, de angustiar-se. Com o quê? Cada qual com seus demônios, a princípio, mas no fim com o invariável fato de que cada existência, em sua delicadeza e intensidade, sumirá sem sequer ser notada. Caden espanta-se com a previsível carência alheia, essa necessidade do indivíduo ser reconhecido, compreendido e aceito, sua vulnerabilidade ao mínimo gesto solidário, essa inclinação tão simples e tão arriscada à compaixão e à empatia pelo próximo. O espanto de Caden, sobretudo diante do potencial de cada pessoa em refletir todas as outras, manifesta-se como angústia que no fundo expressa uma hiper-sensibilidade à fragilidade e à profundidade individual (mais as dos outros do que as de si mesmo).
É possível que tal suscetibilidade tenha sido aguçada paradoxalmente a partir de sua incapacidade de chorar e salivar, o que de algum modo também indica certa inaptidão de expressar a dor que sente. Não há como não recordar, portanto, os dizeres de Fernando Pessoa acerca do poeta que emula a dor alheia a partir de sua própria dor. Reciprocamente, nós, que vemos a peça de Caden enquanto ela é construída, não sentimos sua dor nem a dos demais personagens, quiçá a de Kaufman, mas sentimos outra, aquela que é criada diante do filme e que só pode ser compreendida pela experiência individual de cada expectador em relação à sua própria dor.
Certamente ainda há muitos outros detalhes que poderiam ser explorados, mas por ora peço desculpas pelo tamanho inadmissível do post. É que não tive tempo de ser breve.




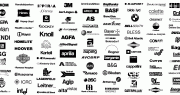



Comentários
Os comentários estão encerrados.