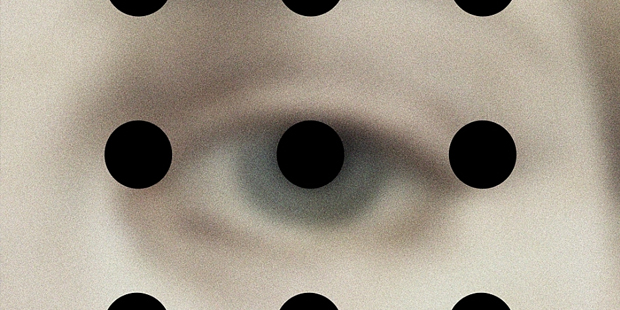
Autoria, design e outras conspirações
* as imagens que ilustram o post são de Chad Wys.
Por meio dos estudos do imaginário, pude compreender de que modo o design atua para além da experiência “de uso” em relação a um objeto ou a uma imagem. E entendendo por “filosofia”, à esteira de Deleuze, como a arte de formar, de inventar, de fabricar conceitos, interessou-me interpretar filosoficamente a mediação do homem contemporâneo com o mundo, com o outro e consigo mesmo. Vislumbrei um caminho para uma filosofia do design a partir da noção de design como “articulação simbólica”: um constante processo de mediação e (re)criação de narrativas que se abrem a novas interpretações, processo este a que recorremos o tempo todo não somente para compreender a realidade em que nos inserimos, mas também para reinserirmo-nos nela, para nos situarmos nela, para produzirmos cultura e, sobretudo, para traçarmos um itinerário de formação.
Neste meu itinerário, ainda em curso, deparei-me diversas vezes com o debate sobre a autoria no design, questão esta que nunca me pareceu muito fecunda – o que um objeto/imagem “diz” ou o que o designer, seu suposto autor, “quer dizer” não importa tanto quanto o diálogo que se abre numa articulação simbólica e que dela extrai sentidos que não estavam ali antes desta ou daquela mediação em específico. E mesmo a mediação não é suficiente; se não houver alguém que se propõe a interpretá-la, não existe autoria. Autor é aquele designer, escritor, artista etc. que me permite compreender-me a mim mesmo diante de sua obra, ampliando assim a própria obra que cada um chama de mundo, vida, realidade etc.
I. Reconciliar para reinterpretar e ressignificar.
A questão é que esta simples definição, como tenho percebido, não é tão clara quanto pode parecer à primeira vista. Em primeiro lugar, é preciso notar que os ditos “autores” não servem apenas como demarcação de pertença ou domínio, mas eles próprios funcionam como mediações, interfaces, reconciliações entre o novo e o velho – e isso não somente no contexto em que vivem, mas especialmente na tão sonhada “posteridade”. Quando resultados científicos, por exemplo, confrontam nossas crenças tradicionais, é praticamente certo que alguém “surja” para reintegrar divergências e contradições, seguindo uma permanente demanda de expandir nosso universo de sentido sem abolir completamente as antigas ideias.

Caso este tipo de demanda autoral venha a falhar, ficamos presos num dilema político, qual seja: ou a recusa reacionária de aceitar novos parâmetros ou a perda dilaceradora do próprio domínio do sentido. Por isso, vale dizer, considero a filosofia do design algo indispensável para se pensar em autoria (não apenas no design), entendendo tal filosofia não como um tipo de filosofar aplicado ao design, nem mesmo o contrário, mas como uma reinterpretação filosófica sobre o homem, o mundo e a existência a partir e por meio das configurações e articulações simbólicas (design) em voga no momento presente. Qualquer tipo de narrativa sobre a vida, o amor, o trabalho etc. somente adquire valor autoral se ao mesmo tempo confirmar interpretações correntes e conseguir remanejá-las em novas configurações.
II. Everything is not always a remix.
O segundo ponto a ser levantado provém da seguinte questão: quer dizer então que estamos fadados a readaptar sempre as mesmas coisas? – o que equivale ao everything is a remix e aos reducionismos recorrentes acerca do imaginário (especialmente da ideia de “arquétipos”). Acho interessante, antes de tudo, pensarmos no aforismo de Emil Cioran segundo o qual “fora o Irremediável [a morte], tudo é falso”. Poderíamos também pensar, num jogo entre autores, que Fernando Pessoa diria: fora o Irremediável tudo é fingimento. Continuando a brincadeira, podemos convocar Gilbert Durand e dizer que, fora o Irremediável, tudo é imaginário. Para Baudrillard, tudo seria simulação. Para Kafka, tudo seria absurdo.
Já escutei até meu orientador dizendo que, fora o Irremediável, tudo é representação. E com isso ele não estava reproduzindo ou dando nova roupagem àquele aforismo de Cioran, pois a “ideia original” (ou seu “arquétipo”) depende da linguagem que a expressa, e não o contrário. Creio que a formulação da linguagem é o ato criativo mais difícil: organiza-se um contexto, a posição de elementos nesse contexto, e por último se coloca a ideia. Não que esta não seja importante, mas o grande desafio do autor nunca é ter uma ideia, e sim conseguir expressá-la. Então é verdade, em parte, que tudo não passa de remix – toda e qualquer expressão diante da inexorabilidade do que é irremediável e irreversível (a morte e o tempo que passa) se torna estratégia de fuga ou superação e, assumindo a forma que assumir, seja a da verdade, da ficção, do absurdo ou da simulação, será de qualquer forma uma representação imaginária.
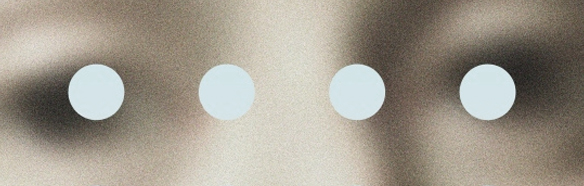
Em parte, contudo, não ocorre reprodução alguma. Pois a diferença, insistia Deleuze, é a única coisa que se repete, de modo que qualquer tentativa de representação imaginária nunca se repetirá da mesma forma. A finalidade da representação não é dar forma às ideias (não é a forma, portanto, que segue a função), mas antes sair delas. Se não existe ideia sem representação – diria até que não há ideia alguma, existem apenas representações –, todo tipo de criação consiste, antes de tudo, em representação. Ocorre que há uma vasta tradição de pensamento que contrapõe a noção de ideia à de representação: um signo remete a algum significado prévio que, quando desvendado, permite que este signo seja efetivamente trocado por tal significado, desde que alguma coisa, como Deus ou a natureza em si, sirva de caução a esta troca. Evidentemente, porém, o próprio Deus ou qualquer ordem que o valha também pode ser trocado, isto é, reduzir-se aos signos que o mantém significativo.
Mesmo no caso de Camus ou Dostoievski, não é a ideia de que nossa existência é absurda e indefensável que define o virtuosismo de sua obra, mas a maneira como representam tal ideia. E mesmo esta representação niilista é diferente da representação trágica pré-socrática, por exemplo, para qual não faz sentido procurar o sentido da vida, basta vivê-la – o que passa longe da ideia de uma existência absurda e indefensável, uma vez que tal julgamento só poderia existir após se ter procurado, em vão, algum sentido na existência. Considero, inclusive, que o ato criativo é trágico ou não é criativo. Cria-se não para encontrar o sentido da vida, mas apenas para continuar vivendo, para lidar com os percalços e as intimações da vida.
III. Se não há salvação, o autor está são e salvo.
Disso decorre o terceiro ponto a ser levantado quando se fala em autoria: não existe nenhum tipo de gênio ou dom capaz de “ver além” do que os demais mortais conseguem ver. Por mais que tal noção romântica já tenha caído em desuso, muitos ainda cultuam Jean-Luc Godard e Jacques Tati como deuses insuperáveis. Aliás, impressiona-me como boa parte da crítica cinematográfica ainda defende a tal “política dos autores”, pregada por François Truffaut em 1954 com base no sistema estético hegeliano – parece que o famoso obituário que Barthes assinou treze anos depois continua válido somente para este tipo de erudição cinematográfica.

O problema é que ressuscitar Barthes para dizer que o autor morreu cairia, a meu ver, no mesmo tipo de visão romântica de Truffaut, só que do lado avesso, idealizando o leitor. O argumento central de Barthes é o de que haveria um novo tipo de leitor capaz de reorganizar, em sua interpretação, todos os elementos com os quais uma obra é constituída. Acontece que numa época como a nossa, onde todo mundo tem voz social ou, ao menos, tem a sensação de ter, acho difícil encontrar alguém simplesmente interessado em fazer este árduo trabalho que é a leitura – eu mesmo custo a admitir que, no fundo, ainda acredito que exista alguém lendo isso. Se algum dia houve, pois, alguma ameaça à figura do autor, não é a interpretação inevitavelmente heterogênea dos leitores, mas a muito mais provável inexistência de leitores.
Por isso eu insistiria, novamente, no aspecto trágico do processo de criação no qual o autor encontra-se constantemente encurralado. Há um conhecido poema de Ricardo Reis (Fernando Pessoa) que apresenta dois jogadores de xadrez que não se furtam ao jogo, nem mesmo quando a cidade que os cerca é invadida: casas são saqueadas, mulheres violadas, crianças mortas… mas o jogo continua. Nem mesmo o barulho dos soldados se aproximando, prelúdio de suas próprias mortes, é capaz de tirá-los do jogo – ainda há tempo para mais uma jogada. Quer dizer, para o trágico, não há como modificar o destino, sendo este entendido apenas como “acaso”, aquilo que não tem causa nem finalidade. E este contraste estabelecido entre a ação do jogo de xadrez e a inação dos jogadores é o que caracteriza, a meu ver, o ato criativo.
Não há como evitar a destruição da obra criada, seja pelo público, seja pela ação do tempo ou pelo esquecimento; mas criamos mesmo assim. Na melhor das hipóteses, o que criamos será transformado em outra coisa, por outra pessoa, de modo que a criação dita “autoral” não constitui, em sentido estrito, uma ação, dado que é impossível evitar o Irremediável. Então por que continuamos a criar? Exatamente para exercer a única ação possível numa vida que, a princípio, não foi evitada: sua aprovação enquanto tal. Ao propor a vida como “obra de arte”, Nietzsche aproxima-se daquele jogo de xadrez de Reis: uma situação com regras convencionalmente estabelecidas (representação de uma tradição qualquer) em que a única escolha possível é continuar jogando ou não. Com efeito, é preciso criar uma obra de arte não para evitar ou justificar o Irremediável – isso não precisa ser justificado, criado ou ensinado –, mas para lidar com ele e, por conseguinte, com o que nos foi dado viver.

Se o jogo (as regras, as convenções, os significados etc.) nos é ensinado pela repetição daquilo que já está previamente estabelecido, caso contrário não haveria jogo possível, a obra de arte somente é possível a partir da constatação do caráter arbitrário de todas as regras, de todas as explicações, leis e teorias. O autor, para ser reconhecido enquanto tal, não deve recusar-se a jogar; pelo contrário, escolhe continuar jogando, mas agora com a própria aleatoriedade do jogo. Ele ou ela apropria-se das convenções como orientações, direções e coordenadas, mas nunca como um ponto de partida, nem um ao qual se chegue ou ao qual se deva chegar. Há uma regra aleatoriamente dada sobre homens e mulheres, por exemplo, assim como há outra regra “emancipatória” em relação aos gêneros – o autor pode se apropriar de uma ou de outra regra, ou mesmo de ambas, mas sem necessariamente pagar tributo a nenhuma delas.
IV. Vício e virtude, estilo e indefinição.
Claro que ainda há muitos autores que, lá do cimo de seu esclarecimento intelectual, cobram de si mesmos certa responsabilidade “transformadora” da sociedade. Fico tentado a dizer que tal responsabilidade os torna mais atores do que autores – o que, é preciso dizer, não os inferioriza de forma alguma, pois são os atores que fazem acontecer as narrativas. E aqui chegamos ao quarto ponto da discussão, aquele que talvez pareça o mais paradoxal: o autor deve partir da premissa de que não possui autoria alguma (dialogismo bakhtiniano entre exotopia e polifonia). A obra criada não pertence ao autor, muito menos ao leitor/interlocutor, só pertence ao mundo que a obra reflete e reinterpreta.
À medida que alguém cria, interpreta ou representa algo, aquilo que foi criado, interpretado e representado muda tanto quanto quem o criou, interpretou ou representou. Não se trata apenas de expressar uma visão de mundo, mas principalmente de fazer diferentes visões expressarem-se umas às outras. Sendo assim, o autor deve acolher até mesmo o que repudia, o que considera duvidoso ou mesmo errado, porque em última instância não há ideias “certas” a serem elencadas, só há palavras ou traços ambíguos para designar nunca exatamente o que quer que seja. Logo, não há nada a compreender e nada a interpretar numa obra autoral que, justamente por isso, se define por aquilo que nos é dado a compreender e a interpretar.
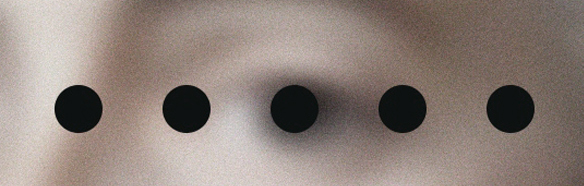
Esta antinomia, por mais estranha que possa parecer, manifesta-se naquilo que talvez já seja lugar comum no que concerne ao “estilo”, isto é, à propriedade daqueles de quem habitualmente se diz, ou muitas vezes dizem eles próprios, “não ter um estilo definido”. É interessante notar como um artista, um escritor ou um diretor, justamente no esforço de eliminar seus “vícios” e adquirir domínio de uma miríade de linguagens diferentes, acaba impondo marcadamente um estilo próprio. Por isso acredito que o “virtuosismo”, na falta de palavra melhor, é também uma forma de vício: não se trata apenas da posse de diversos sistemas técnicos e discursivos, cada qual homogêneo em si mesmo; é antes aquilo que afeta cada sistema impedindo-o de ser homogêneo – este modo de afetar-se, de apropriar-se e de desvencilhar-se do previsível talvez seja o vício do estilo propriamente dito. Ou seja, ao invés de conseguir aprender a pronúncia exata de uma língua estrangeira, o estilo autoral me parece ser, pelo contrário, conseguir pronunciar sua própria língua tal como um estrangeiro.
É neste sentido que, por exemplo, considero Flusser um autor virtuoso: muitos de seus livros foram de fato escritos numa língua a ele estrangeira, provocando a princípio uma série de contrassensos à medida que, para cada palavra, muitas interpretações são possíveis. A linguagem filosófica empregada por Flusser é, deste modo, permeada por uma ambivalência peculiar que lhe permite desenvolver uma retórica violadora, que inova, multiplica e supera o próprio discurso, mesmo quando traça este ou aquele desfecho categórico. Não obstante, toda vez que trabalho com textos de Flusser em sala de aula ou em grupos de estudos, surpreendo-me com a possibilidade de novas leituras que dali podem ser retiradas. A autoria flusseriana, portanto, delineia-se como um lance de dados já ganho na maior parte das jogadas, porque afirma suficientemente o acaso interpretativo em vez de categorizar, de problematizar ou de mutilar as inevitáveis visões de mundo com as quais se deparará.
V. Autoria e plágio em design.
Desta feita, podemos agora pensar especificamente na possibilidade de autoria em design e tentar, o quanto antes, analisar o problema que aparentemente adquire cada vez mais importância no meio profissional: a questão do plágio. Em primeiro lugar, devo esclarecer que design evoca, a meu ver, a simbólica do designum hermesiano, um exercício de fazer advir aquilo que potencialmente já existe (estruturas narrativas), conjugando numa operação aberta e sempre diferente convenções e intenções. É por meio do design, assim como por meio da literatura ou do cinema, que penetramos no reino dos sentidos e forjamos um significado para a vida – um significado sempre aberto e provisório, convém sublinhar, especialmente porque a leitura operada pelo design é do registro das aparências, das imagens e das superfícies.

Um designer não trabalha com configurações lineares, como textos literários ou enredos cinematográficos, mas nem por isso deixa de forjar narrativas diversas: assim como uma máscara tribal sustentava as narrativas de um clã totêmico, uma marca de sapatos ou uma cadeira Barcelona pode compor a narrativa que alguém ou determinado grupo constrói sobre si mesmo. Ou seja, por meio de analogias em potencial, um produto e uma peça gráfica instauram mediações no limite dos “textos”, lá onde nossa leitura de mundo dialoga com tantas outras sem necessariamente recorrer a palavras nem conceitos. Logo, o trabalho do designer não consiste em fundar, justificar ou legitimar esta ideia ou aquele discurso, mas em estabelecer conexões ou ressonâncias de uma experiência a outra a partir da questão central que orienta suas criações: a representação.
Ocorre que, como vimos, é complicado estabelecer uma contraparte à representação – o que se representa nada mais é do que outra representação. No caso da produção científica, por outro lado, “criação” contrapõe-se à representação uma vez que se refere ao que até então não foi representado, o que somente faz sentido dentro de uma “especificidade” dos saberes – cada qual respondendo a suas próprias questões ou procurando resolver por conta própria, e com seus próprios meios, problemas semelhantes aos colocados pelos outros saberes. Mas no caso do design, assim como no do cinema ou no da literatura, a criação sempre passa pelo que já foi representado. Os elementos que temos são formas, cores, texturas etc. que somente adquirem valor, isto é, potencial de representação, se conjugados simbólica e tecnicamente a partir de determinadas coordenadas finitas em dado conjunto. A novidade não reside, pois, no que está sendo representado, mas na reconfiguração e rearranjo de tais coordenadas.
A autoria no design, portanto, não depende de uma ideia rigorosamente inédita, velada, podendo ser “revelada” pelo designer tal como um cientista “descobre” uma nova representação ou forma de representar uma ideia. A autoria no design depende mais do “representar” em si, da linguagem empregada, do estilo desenvolvido, naquele sentido de falar sua própria língua como um estrangeiro, como uma espécie de caleidoscópio que produz sempre uma nova combinação a partir de si mesmo. Não significa que o designer-autor seja mais ou menos autoral que o cientista ou qualquer outra profissão; a questão é não se pode determinar a autoria daquele com os mesmos critérios que determinam a autoria deste.

É neste ínterim que o problema do plágio em design torna-se propriamente problemático, sobretudo numa época em que a mínima novidade já aparece como mercadoria genérica e intercambiável. Acho curioso observar como o emblemático campo da comunicação social, à medida que aprendia a separar-se da função “autor”, reencontrava crédito na televisão, nos jornais, na internet – ou seja, ao apropriar-se cada vez mais dos acontecimentos que enunciava, o jornalista descobria-se novamente autor, tornando “atual” uma notícia antiga ou reciclando uma opinião até então caída em descrédito. Quer dizer, o grande problema que eu vejo no plágio atualmente é que, de um modo geral, mesmo quando se julga falar em nome próprio, fala-se no lugar de um alguém genérico que nem sequer é notado como tal.
Para se falar em plágio no design, enfim, acho necessário considerar que o gesto “autoral” do designer é um epifenômeno que se sobrepõe ao fenômeno da obra criada. Em outras palavras, cria-se mais a partir da captura e do agenciamento e menos a partir da descoberta ou da invenção; o que menos importa é o que se cria, mas o fato mesmo de continuar (re)criando. Claro que isso não deslegitima de forma alguma o plágio, mas a grande dificuldade de se chegar a um “veredito” autoral é que tanto o plagiador quanto o plagiado mantêm-se ainda prisioneiros das perspectivas que eles mesmos ora se apropriam, ora denunciam.
VI. Criação e representação na contemporaneidade.
Neste ponto, devemos compreender que a proliferação crescente e historicamente inédita do termo “plágio” localiza o ato criativo num registro pontual, técnico, instrumental, sistemático, especializado, paradigmaticamente econômico, portanto produtivista. Por conseguinte, a noção de “autoria” marca mais a impotência do autor em delimitar ou orientar territórios do que a pretensa busca por reconhecimento e legitimidade. Enquanto a própria ciência é cada vez mais questionada quanto à validade efetiva de seus paradigmas e modos de operar, nunca antes o conhecimento esteve tão disseminado e acessível, tão transmitido e ensinado, nunca as empresas investiram tanto na necessidade de “inovação”, diferencial competitivo etc.

Não obstante, são muitos os que falam de uma crise de conhecimento, de identidade ou outra qualquer, apontando para um mal-estar generalizado de onde emerge o retorno de fundamentalismos religiosos, de obscurantismos científicos, o comércio da autoajuda etc. Fala-se, inclusive, de um “mundo de representação”, como se houvesse algum outro mundo “não artificial” que já estaria perdido. Vejamos o quanto isso é capcioso: no início de As palavras e as coisas, Foucault descreve minuciosamente as Meninas de Velásquez, tentando com isso demonstrar como o lugar dos signos, ou da interpretação de signos, desfazia-se na Renascença para dar lugar ao da representação. Na pintura em questão, o autor aparece refletido somente em um espelho lá no fundo do quadro, contemplando tudo aquilo que o contempla, compondo a grande ausência que é, no entanto, o centro extrínseco da obra.
Só que junto ao espaço da representação teria surgido também o do obscuro, uma dimensão de profundidade. Poderíamos dizer que a própria noção de autoria, à esteira desta arqueologia das ciências humanas traçada por Foucault, não se constitui quando o homem se tomou por objeto de representação, nem mesmo quando ele descobriu para si uma história. Ao contrário, a autoria se instaurou quando o homem “des-representou” a si mesmo, a exemplo de Dom Quixote, e quando as coisas (as palavras, os indivíduos, as obras) receberam uma historicidade que as liberava do homem e de sua representação. O interessante na famosa pintura de Velásquez, pois, é que o autor desaparece no ato mesmo de fazer-se representar.
Parece-me importante insistirmos na antinomia da autoria não-autoral, pois se algo de fato desabou no pensamento ocidental, não foi a “verdade” ou sua representação, mas a soberania do “idêntico” na representação. Dito de outro modo, o homem torna-se autor ao se encontrar atravessado por uma não-identidade que o constitui, como uma espécie de alienação identitária que o coloca separado dele mesmo pelas palavras, pelo trabalho, pelas representações que faz de si. Não se trata de uma simples dicotomia do tipo natureza-artifício, mas antes daquela que diz respeito ao Irremediável: fora o fim que nos aguarda, o que sobra é a gana humana de representar suas ambições, sentimentos, juízos etc., representações estas que nos permitem convencionar leis, estruturar sociedades, compor histórias, elaborar obras diversas – sem nunca conseguirmos fixar um eu-idêntico de uma representação a outra.
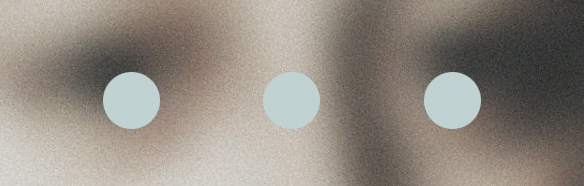
Como analogia, lembremos que no mundo greco-romano o homem atuava, representava, vivia para divertimento dos deuses. Os deuses escolhiam seus protegidos, apostavam nas guerras, intervinham nos destinos humanos, jogavam com a existência como forma de distração. A nossa razão de existir era contentar os deuses. Na cristandade, o deus único se faz carne, morre pelos homens e torna a ressurreição o caminho da vida eterna, condenando a vida humana a uma prova moral. Se de um lado se ganha a esperança na eternidade, de outro se perde a arbitrariedade das representações. Os homens não atuam mais para o deleite dos deuses, mas se esconde da vigilância implacável de Deus. Com a ascensão do saber científico, por sua vez, perde força a representação de um deus que nos observa. Quem agora olhará para nossa atuação? Como representamos nossa vida? Para os olhos de quem?
A novidade não é o espetáculo, mas o aspecto totalizante do espetáculo. Frente aos atuais imperativos econômicos e midiáticos, a conduta corrente é escrever “bom dia” em alguma vitrine social como quem espiona por trás da cortina minutos antes do início do show. Somos ali representados não necessariamente por nossas grandes conquistas ou feitos notórios, mas especialmente em pequenos “sketches” do cotidiano, elencando notícias, imagens, trilhas sonoras, uma citação de C. Lispector, um comentário irônico, uma indireta em aberto, uma confissão não endereçada a ninguém em específico etc.

Cada indivíduo é a estrela, o herói, o autor de sua própria vida, seja esta levada ou não a sério, para o deleite e a inveja dos olhares alheios. Uma vez que existe alguém nos assistindo, imaginariamente ou não, somos autores de nós mesmos mediante as convenções dadas em nosso “jogo de xadrez”. Não jogamos mais com palavras ou ideias, mas com imagens, identidades, representações de si. Se por um lado não sobra muito espaço para a idealização romântica do autor, por outro, nunca antes a autoria esteve tão acessível: num espetáculo socialmente partilhado, conseguimos narrar quem somos através de representações arbitrárias que nos intermediam – imagens, objetos, roupas, tatuagens etc.
De um lado, este contexto bastante me agrada, afinal todo itinerário de formação se constrói, de um jeito ou de outro, a partir da desidentificação de si e, portanto, a partir da autoria. Dado que o indivíduo nunca conhece a si mesmo diretamente, sua identidade depende de certa dignidade que se abre quando as representações que o cercam se coordenam, se conectam, se compõem. Há uma função mimética neste processo, uma função que não consiste em reproduzir um enunciado como forma de adequar-se a ele, mas sim em representá-lo no ato mesmo de reestruturá-lo num confronto de representações que, assim, se atualizam.
De outro lado, a tendência totalizante do “espetáculo” é sem dúvida preocupante, porque ela não reside nas representações nele movimentadas, mas na naturalização delas. Toda atividade social estrutura-se com base em representações – este não é e nunca foi o problema. Mas a partir do momento em que as representações deixam de operar como tais e passam a desempenhar o papel de necessidades inelutáveis – como o dinheiro ou a imagem do “vencedor” –, a realidade é vivida como um experimento em que as cobaias sabem o que são e continuam a agir de acordo.
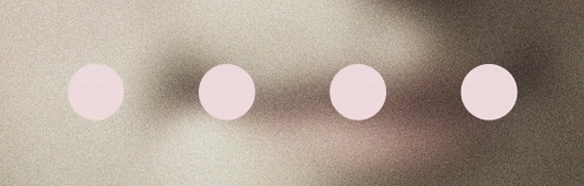
Reality-shows são os exemplos mais claros, mas eu diria que a ideia de “vencer na vida”, quando naturalizada, corre grande risco de transformar-se numa lei de “levar vantagem em tudo”, de modo que alguém tenha bancar o trouxa para que essa lei possa ser cumprida. Logo, ao contrário da possibilidade de autoria, o que este tipo de narrativa impõe é justamente a impossibilidade de realizar nada que já não tenha sido narrado.
A ideia de um mundo mais justo, melhor e pacificado é apenas uma entre as tantas naturalizações que proliferam em um mundo “proativo”, um mundo no qual introspecção, indisposição e falta de engajamento são tidas como burrice ou doença. O logro é que toda naturalização é enunciada de modo consciente, aberta e ativamente, de modo que seu enunciador apresente-se como uma pessoa totalmente esclarecida e isenta de todo tipo de preconceito – portanto muito mais desiludida, insensível, acrítica e especialmente não autoral do que aqueles que ela denuncia. Nada é representado, tudo é constatado, e quem o constata não se arrisca a pintar a si mesmo em nenhum canto de seu quadro naturalista.
Velásquez coloca-se no centro de sua pintura, ainda que refletido ao fundo dela, tal como nós publicamos selfies em nossa vitrine virtual, refletidos ao fundo da timeline alheia. Em suma, aprendemos a ser autores quando arriscamos representar a nós mesmos. É arriscado porque, na contramão de qualquer naturalização, implica perguntar “o que somos?” mesmo sabendo que já não somos os mesmos nem antes da pergunta, nem depois da tentativa de resposta. Por isso que a obra que criamos não serve para responder ao “que somos?”, mas para violar o que pensamos que somos, e isso na dificuldade mesma de sê-lo ao flagrarmo-nos refletidos naquilo que, até então, não somos. Não sou aquilo que represento aos outros, mas se me pergunto o que sou afinal, flagro-me sem nada além dessa representação e, no esforço de sê-la, na dificuldade de falar minha própria língua como um estrangeiro, torno-me autor.
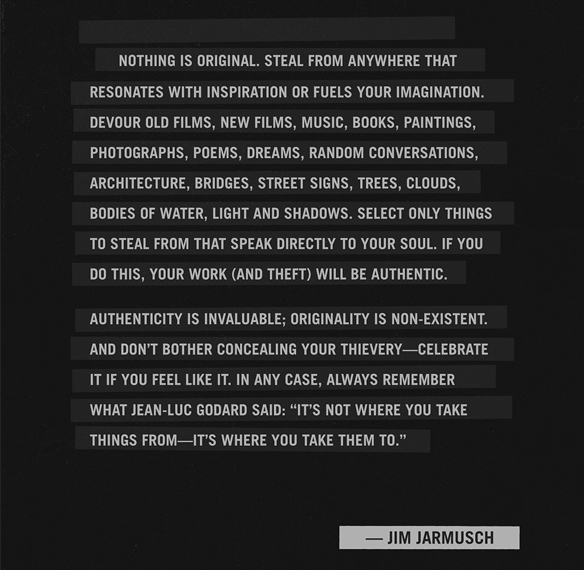








Comentários
Os comentários estão encerrados.