
Corpos que restam n’alma
Eu, que estou no mundo, de quem aprenderia o que é estar no mundo se não de mim mesmo, e como poderia dizer que estou no mundo se não o soubesse? – Merleau-Ponty, O visível e o invisível (Perspectiva, 2007, p. 41).
A partir de duas peças cinematográficas atuais, Transcendence (Wally Pfister, 2014) e Amour (Michael Haneke, 2012), pretendo discutir sobre a emergência do corpo e do aparelho como temas emblemáticos no que se refere a certo desconforto contemporâneo. Desconforto este que não é propriamente atual, mas que permanece “contemporaneamente anacrônico”, como que em cima de um muro ancestral entre, de um lado, uma salvação vinda “de fora” (deus e outras promessas metafísicas ou científicas) e, de outro, um mundo que nunca solicitou salvação alguma. Embora a questão de por que e quem precisa ser “salvo” já possa suscitar tal desconforto, minha impressão é a de que, nos filmes ora elencados, todo desconforto coincide com sua própria aprovação, espelhando assim um real que só pode ser narrado ao confrontar-nos, pela aprovação ou pela recusa, com nossos desconfortos em relação a ele.
A temática do corpo, no seio da tradição filosófica ocidental, foi predominantemente relegada a uma espécie de apêndice secundário da “alma” ou da “mente”. Com base na metafísica de Platão e Agostinho – a partir da qual a tradição religiosa judaico-cristã foi erigida –, e sob a influência da cisão cartesiana entre a res cogitans (mente) e a res extensa (corpo), o pensamento ocidental atentou e continua a atentar a uma série de empecilhos no trato com as questões do corpo (seus sentidos e prazeres, suas possibilidades e limites). Exemplo recente diz respeito ao tópico da estimulação direta de certos pontos de prazer em nosso cérebro: na indústria pornográfica, alguns serviços já prometem um patamar de desempenho por meio do qual a fruição do gozo se dá numa intervenção neuronal direta, contornando inteiramente o nível dos sentidos corporais. O discurso comercial infere que esse tipo de procedimento gera experiências “mais reais” do que a própria realidade, ou seja, necessariamente mais diretas e intensas por atuar na parte de “dentro”, não aparente, do nosso corpo.
Parece-me evidente que essa forma de tratar o desejo apenas reitera o engodo pelo qual ainda lidamos com o corpo e a sexualidade. Afinal, esta dimensão “mais real” qualifica-se como tal por “descolar-se” da realidade dos sentidos, assim como nossa alma/mente outrora foi descolada de nosso corpo. Logo, entre o ser invisível que somos no “sistema nervoso central” e o que somos corporalmente nas relações sociais abre-se uma lacuna. Dessa lacuna surge a ideia de que a mente humana, destarte vista como um conjunto de memórias e sensações de um eu invisível, poderia ser armazenada num banco de dados virtual e descarregada em qualquer corpo ou, ainda, integrada a uma máquina (as narrativas são intermináveis).
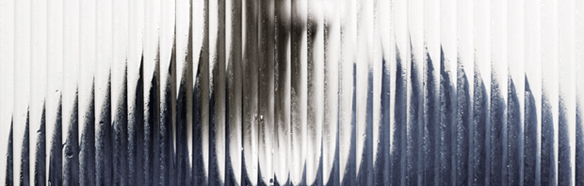
Por sua vez, em se tratando das novas formas de “estar no mundo” impulsionadas pela tecnologia, a noção flusseriana de “aparelho” concerne à configuração material ou imaterial de um programa pré-determinado que gera não apenas disposições e resultados específicos, mas também a consecutiva privação das possibilidades não inscritas nas coordenadas do programa. Um dos pontos de partida de Flusser – conforme Daniel B. Portugal demonstra em nosso Existe design? (2ab, 2013, p. 79-85) – consiste na “lógica da disposição” descrita por Heidegger em seu famoso Ensaio sobre a técnica, uma lógica que não condiz aos objetos e tecnologias per se, mas a um modo específico de adequação e valoração de recursos. O que nos importa reter aqui é o fato de que, ao contrário do que poderia suscitar uma leitura apressada, nem Heidegger nem Flusser propuseram uma espécie de fuga do mundo, numa oposição simplista em relação a um processo cego de determinação técnico-programática.
Heidegger é justamente o filósofo que percebe que o humano sempre “está no mundo”, que não existe sujeito fora do mundo; por sua vez, Flusser é o filósofo que elogia a superficialidade, reconhecendo que são as “caixas-pretas” que fornecem respostas aos problemas que elas mesmas nos colocam. Ou seja, é sempre em um mundo específico que o sujeito se localiza, e sempre por intermédio de uma interface. Aqui devemos retomar brevemente a concepção de Merleau-Ponty segundo a qual a forma de perceber prescreve a coisa percebida: cada indivíduo é como um peixe que não vê a água na qual está imerso e, por conseguinte, sua existência “real” (do peixe e da água) não passa de uma interface, uma superfície, uma aparência. Neste sentido, o próprio corpo constitui um modo de se localizar no mundo, o que levanta a seguinte questão: de que maneira certas representações do corpo aparelham e desaparelham (articulam ou desarticulam) nosso acesso ao real?
Penso que os indivíduos, os grupos e o próprio mundo socialmente partilhado são enquadrados em uma espécie de corpo que sinaliza, uma hora ou outra, que não há e nunca houve nada além deste corpo. Só que um corpo, ao contrário da acepção cartesiana, não como algo que “temos” e sim como algo que “somos”, como um ser-no-mundo enquanto mediação contínua e aberta à multiplicidade de visões em perspectiva que ora se confrontam, ora se mesclam umas às outras. Por conseguinte, o indivíduo não se cria ex nihilo, a partir do nada, mas sempre no interior do espectro da ação humana, portanto sempre por meio dos aparelhos. Tendo como horizonte esta conciliação elementar entre corpo e aparelho, em que nada está inexoravelmente dado senão como mediação em potencial, podemos analisar de que maneira certo desconforto é promovido pelas narrativas selecionadas.
I. Transcendence e o desconforto da mente
Trancendent Man é um documentário feito em 2009 por Robert Barry Ptolomy sobre o futurólogo Raymond Kurzweill. Este “guru” do vale do silício e do history channel afirma que, a partir do ano 2029, já será possível não mais morrer. Por meio de uma combinação entre nanotecnologia, biotecnologia e cibernética, Kurzweill aposta na velha utopia da imortalidade sob a forma de homens “pós-orgânicos” ou “máquinas espirituais”. Tal previsão gera tanto espanto e chacota quanto entusiasmo e esperança por parte de uma plêiade de seguidores. Sintomática, ela revela o anseio de superar a condição humana, apontando para uma metamorfose final por meio da qual a vida possa seguir para além do corpo e da morte.
Por mais evidente que seja a referência a este documentário, ela se detém na premissa dramática e não tanto no argumento de Transcendence. A péssima recepção da estreia de Wally Pfister como diretor perante a crítica se deve, quase por unanimidade, a um enredo incompatível com sua própria temática, cuja profundidade excede a compreensão narrativa do filme – mas como não sou crítico de cinema, não receio assumir que entendi e achei bem construído o enredo. Logo de início, vemos o Dr. Will Caster (supostamente inspirado em Kurzweill) montando em sua casa aquilo que ele chama de “santuário”, um jardim cercado por uma rede de cobre que impede a circulação de ondas eletromagnéticas em seu interior – o que a princípio constitui apenas um local sem sinal de telefone e internet, mas que soa como exagero à Dra. Evelyn Caster, esposa de Will, segundo a qual “bastaria desligar o celular”.
Esta cena é importante não apenas porque o filme se encerra nela, localizando neste jardim a única possibilidade de reversão da catástrofe que virá, mas principalmente por já atenuar o embate tecnológico que permeia toda a trama: de um lado, a criação quase clandestina (à margem dos olhos do governo) de uma inteligência artificial por parte da equipe do Dr. Caster e, de outro, a militância radical neo-ludista que demoniza a criação de uma I.A. e a própria vida online. O embate é relativizado pela própria postura de Will Caster que, embora represente um avanço tecnológico desenfreado, preocupa-se em delimitar para si um lugar neutro, fora do alcance da conectividade virtual. Mais adiante, percebemos que a própria inteligência artificial por ele desenvolvida deriva de um “escaneamento” do cérebro de um macaco, ou seja, de um experimento “de praxe” cujos resultados ultrapassaram as expectativas.

Convém enaltecer, em meio a tais detalhes iniciais, certa concepção deleuziana acerca da ciência, isto é, como apenas outro modo de criação e expressão humanas (ao lado da arte e da filosofia). Qualquer conceito filosófico pode gerar ideias para um artista, um cientista ou um cineasta, desde que um mesmo desejo expressivo se “traduza” em cada domínio criativo. A linguagem do cientista seria a das “funções”, a das correlações ordenadas entre conjuntos. No caso de Will, cuja facilidade de correlação entre conjuntos (neuronais, mecânicos, cibernéticos etc.) é notável, toda força criativa lhe serve para expressar o amor que sente pela esposa – a qual, esta sim, fala em nome de uma “evolução humana”. Trata-se aqui de um aspecto chave para a compreensão de que toda peleja científico-tecnológica que se desdobra no filme estará pautada, desde o início, no impasse entre o sentimento contido de Will e a ambição de Evelyn.
A proposição de uma autoconsciência artificial como sendo mais inteligente do que “a soma de todos os humanos que já viveram na Terra” é sem dúvida temível – como o Deus ex machina invocado desde o início –, mas é levada a cabo sem constrangimentos, como uma revolução necessária que uma hora ou outra despontará. Isso fica claro na cena do congresso, pouco antes de Caster ser atingido por um tiro envenenado que o leva a adoecer fatalmente. Em primeiro lugar, Max Waters (braço direito de Will) profere um discurso moderadamente esperançoso: enfatizando o processo ao invés dos objetivos, o cientista especula benefícios indiretos relacionados a tratamentos contra o câncer, à prevenção de acidentes etc. Em seguida, Evelyn enuncia claramente a promessa salvacionista daquilo que ela considera uma verdadeira revolução científica. Por fim, o Dr. Caster mostra-se mais contido, admitindo ter mais curiosidade de compreender a vida humana (sobretudo no que tange à dedicação e à convicção de sua esposa) do que interesse em propriamente torná-la melhor.

Esta cena é crucial por ressaltar que Caster é o menos pretensioso dentre os cientistas envolvidos. Enquanto sua esposa toma a frente apologética das pesquisas, ele apenas se “diverte”, como quem constrói pacientemente réplicas de aeromodelos, sempre amparado na prudência de seu melhor amigo Max. Tanto que foi Evelyn quem propôs escanear a mente do marido, pouco antes da morte dele, num espírito de “a revolução não pode parar” – sendo necessário para isso manter a genialidade dele por perto. E Will só aceitou, ao ser indagado por Max, dizendo algo como “não tenho nada a perder mesmo”. Uma vez morto, o espectro consciente de Will aos poucos se revela ainda vivo, por meio de computadores, e toda uma perseguição é iniciada por parte do grupo neo-ludista, que logo se junta ao governo e a Max Waters (que não acredita que aquela consciência inteligente seja de fato a de Will).
Ao longo de alguns anos, Evelyn e o espectro virtual de Will – que inserido na internet passou a atuar quase de modo onipresente e onisciente – literalmente “compraram” uma irrisória cidade, perdida no meio do nada, para construir em seu subterrâneo um grande laboratório científico. Com esta nova “dimensão” da inteligência de Will, avanços em bio e nanotecnologia foram rapidamente alcançados e aplicados na regeneração e no aperfeiçoamento dos atributos físicos dos habitantes locais, que, por sua vez, se submetiam voluntariamente a incorporar a consciência de Will, de modo a serem parcialmente controlados por ele. À medida que o laboratório, até então clandestino, tornava-se um norte para pessoas que queriam se curar de doenças graves gratuitamente, Evelyn decidiu revelar sua localização às autoridades, na esperança de que os avanços científicos fossem devidamente reconhecidos.
Era de se esperar que “as pessoas temem aquilo que desconhecem”, conforme repetia Will. Não é por menos: qualquer estrago feito na superfície da cidade-laboratório era rapidamente reparado por uma nuvem de nanorrobôs que brotava do solo. Pessoas e equipamentos regeneravam-se em questão de minutos. Mais do que isso, os nanorrobôs também se difundiam na água, inserindo-se assim na precipitação das chuvas. Quer dizer, aos poucos tudo se “contaminava” pela mente de Will (exceto Evelyn, que nunca aceitou partilhar sua mente) que, porém, ao contrário do que se esperaria de uma índole dominadora, não fazia nada além de concertar coisas, curar pessoas e regenerar o ecossistema terrestre como um todo.

É preciso notar, não obstante, que os nanorrobôs e o aparente “exército” de pessoas controladas por Will em momento algum assumiam uma postura ofensiva, pelo contrário, chegavam a parecer monótonos de tão inofensivos. Mesmo quando um destes autômatos de Will foi capturado pela ala da resistência, ele não fez nada além de implorar que o “conectem” de volta, uma vez que graves feridas apareciam em seu corpo por conta da desativação dos nanorrobôs que residiam em seu organismo. Sendo assim, como todo tipo de ataque mostrava-se inútil – e, para todos os efeitos, injustificável perante a opinião pública –, a estratégia de Max Waters foi desenvolver um vírus que destruísse gradativamente a consciência virtual de Will. E não haveria melhor meio para tanto do que Evelyn, que aceitou portar o vírus após desentender-se com Will, duvidando de sua real identidade.
Esta dúvida acerca da identidade de Will me lembrou, diga-se de passagem, do mote principal de Vertigo, de Hitchcock (1958). Neste último, Scottie insistia que Judy mudasse de roupas e penteado para ficar parecida com Madeleine (e sabemos que ambas são a mesma pessoa). De maneira análoga, a inexpressividade de Will Caster, cujas emoções desde sempre foram contidas, foi colocada à prova por sua esposa que não mais o “reconhecia”. Ou seja, a dificuldade não é a de identificar o elemento original que teria sido substituído ou subtraído na cópia, mas sim a de esperar ver algo mais naquilo que insiste em ser idêntico ao que sempre foi. Em última análise, a dificuldade de Scottie (Vertigo) é a mesma de Evelyn (Transcendence): reconhecer que não há nada escondido por trás do que se mostra como mera “aparência”.
Seja como for, Evelyn retornou à cidade-laboratório e se deparou pela primeira vez com Will Caster em “carne e osso”, por ocasião de sua auto-reconstituição orgânico-sintética. Diante deste apelo físico, Evelyn volta a acreditar na identidade de seu marido, o que não a impediu de infectá-lo com o vírus destrutivo ao ceder finamente à “transcendência espiritual”, isto é, ao partilhar da mente de Will, para consequentemente morrer infectada junto a ele. Com a disseminação do vírus, percebemos que o perímetro de alcance da mente de Caster já abrangia todos os meios de comunicação, ocasionando então um regresso tecnológico que alastrou a internet, a telefonia e, enfim, os dispositivos eletrônicos em sua totalidade. A cena que encerra o filme mostra Max Waters revisitando o antigo “santuário” que Will construiu no início do filme. Por ocasião da proteção da rede de cobre, o vírus não conseguiu penetrar no jardim, onde ainda havia água (gotas de orvalho) prenhe de nanorrobôs ativos.

É preciso sublinhar aqui que mudança comportamental somente há em Evelyn, que antes apostava num grande salto evolutivo e depois preferiu destruir o que “escapou do controle”. Já a postura de Will permaneceu inalterada: tanto faz melhorar ou não a raça humana, ele só queria manter-se leal a Evelyn. Por isso me parece demasiado limitada (à visão de Evelyn) a interpretação que reduz o filme a uma caricatura da insegurança humana que sempre destrói o que não controla e não compreende. A meu ver, o filme se ampara num argumento muito mais modesto e ao mesmo tempo muito mais amplo: qualquer esforço por controle ou compreensão, qualquer grandiosidade humana e qualquer tipo de avanço científico continuam secundários em relação aos afetos e sentimentos que, contidos ou não, conduzem nossas escolhas. Eis o grande “corpo” do qual Will Caster nunca se desprendeu: o percurso afetivo em que se valem, nunca separadamente, nossos pensamentos e ações sobre o mundo.
Ademais, enquanto a derradeira maioria dos filmes apocalípticos sci-fi apresenta um contexto de calamidade total, sem regresso e sem saída, pautando-se por uma ética da “sobrevivência humana”, de um “direito à vida” em detrimento de certas formas duvidosas de vida (alienígenas, androides, zumbis, máquinas etc.), o enredo de Transcendence coloca em cheque a moralidade, ou sua falta, em relação à ideia de “evolução”. Por isso que, ao invés de humanizar ou de demonizar a tecnologia, a narrativa ganha força ao atenuar falsos dualismos como homem x máquina, natureza x artifício – conforme comentarei mais adiante.
Aponta-se enfim para a inconsistência fundamental de uma moralidade tecnológica, sobretudo por meio do enunciado capital de que todo consenso é burro (inclusive este, o de que todo consenso é burro). É como se o Dr. Caster nos fizesse a seguinte intimação: se a tecnologia os assusta, então a enfrentem até as últimas consequências, e isso os conduzirá novamente a ela. A relação entre incompreensão e medo, geralmente empregada para instruir uma “tolerância ao diferente”, aparece aqui como inversão privilegiada por meio da qual a medida moral da “dignidade humana” cai por terra. Neste sentido, arrisco-me a dizer que Transcendence finalmente fechou uma porta que as distopias do século XX deixaram entreaberta.
II. Amour e o desconforto do corpo
Amour não é um filme sobre amor. É sobre o cheiro da vida mediante o tempo, sobre o próprio tempo que desacelera ao se aproximar do fim. Em pleno contraste com o filme anterior, no qual vislumbramos todo um aparato etéreo e redentor à vida humana, Amour é uma ode à decomposição do corpo que nos coliga ao mundo. Nele, toda a retórica tecnológica soa patética perante a pergunta acerca do que significa envelhecer num mundo asséptico que endeusa o futuro, mas onde não há outro futuro individual além da invisibilidade social.
Há algo sobre amor, é verdade. Porque mesmo em (ou especialmente em) tempos de relações descartáveis, ninguém deixou de se fascinar e se paralisar por tal ideia, ainda que indiretamente, ainda que em silêncio. É que não interessa o que há para se dizer sobre o amor, e sim as circunstâncias e ações que o expressam. Foi esta a percepção, não a invenção, da literatura romanesca: amor se narra, não se define. Ou nem isso, como parece querer nos dizer Haneke. Seguindo quase ao pé da letra o enunciado de Wittgenstein segundo o qual “sobre o que não se pode falar, deve-se calar”, as lentes do diretor austríaco retratam a reclusão de um casal de aposentados, George e Anne, que costumava dar aulas de música e que, aos poucos, não executam outra partitura além daquela de um silêncio por vir.
Já na primeira cena, antes do corte seco ao título, vemos uma incorruptível celebração do amor pela crueza de seus indícios: os bombeiros invadem um apartamento abandonado e encontram no quarto lacrado um corpo morto cuja existência foi cuidadosamente partilhada com alguém. Não é spoiler, todos já sabem disso, só que aprová-lo de antemão é o que me obriga a eleger esta primeira cena como a mais bela do filme. Em seguida, impõem-se dois longos minutos de uma câmera fixa que nos mostra a plateia do Teatro do Champs Elysées, onde um ex-aluno de Anne se apresentava. A imobilidade desta tomada parece querer construir um grande espelho cinematográfico pelo qual olhamos a nós mesmos prontos a assistir uma obra que já conhecemos, mas que queremos ver “de perto”. Não obstante, esta é a única cena exterior ao apartamento do casal, para onde logo somos encaminhados.

No dia seguinte, pela manhã, Anne ficou imóvel durante alguns minutos sobre a mesa, recobrando a consciência logo em seguida sem se dar conta que havia “apagado”. Preocupado, George disse que marcará uma consulta, mas Anne se mostrou relutante, não suportava mais tantos remédios e seus incontáveis efeitos colaterais. Em outra cena vemos George recebendo a filha Eva, que lhe conta sobre como andava sua carreira de musicista, seus filhos e sua reconciliação com o marido que havia lhe traído – assim notamos o distanciamento entre gerações (George nunca viu seu neto de 26 anos). Na mesma conversa, George disse que Anne estava internada no hospital após passar por uma cirurgia que não correu bem, e que contratará uma enfermeira assim que sua esposa retornar ao apartamento.
Na sequência, Anne, agora dependente de uma cadeira de rodas (a parte direita de seu corpo ficou definitivamente paralisada), exigiu que George lhe prometesse que nunca mais a levaria ao hospital, além de que ele preservasse a autonomia da esposa, que nunca gostou de depender dos outros. Desde então, esporadicamente aparecem no apartamento, além das enfermeiras contratadas, o sr. ou a sra. Méry, que aparentemente são os zeladores do prédio, para ajudar com as compras cotidianas de George. Não havia aproximação alguma entre os casais, apenas uma admiração cordial por parte dos Méry que, no entanto, eram os únicos (os “mais próximos”) que acompanhavam os bombeiros naquela primeira cena do filme.
Aos poucos, na medida em que a saúde física e mental de Anne se deteriorava de maneira acentuada, George procurava manter-se cada vez mais próximo dela, dando-lhe banho, contando-lhe histórias, amparando-a de todas as maneiras. Anne via-se como um peso ao marido, não queria mais receber visitas e pendia entre a tristeza de sua condição degenerativa e a alegria de ter vivido uma “longa e bonita vida”. Em apenas duas cenas, o definhamento de Anne é mostrado de maneira direta e franca: na primeira, Anne sentiu-se profundamente mal por ter urinado na cama; na segunda, Eva se surpreendeu ao tentar conversar com a mãe que já falava de forma desconexa, sem conseguir pronunciar quase nada.

Em estado de choque, Eva foi conversar com o pai na sala, o qual tentou lhe acalmar dizendo que Anne sofreu uma segunda paralisia, comprometendo agora o corpo inteiro. “Não posso crer que nos dias atuais não haja nenhuma possibilidade de tratar isso de forma mais eficaz”, queixou-se Eva, após a objeção de George em internar a esposa num hospital ou num asilo: “o que eles fazem nesses asilos, posso fazer muito bem aqui”. A partir de então, passamos a acompanhar o dedicado marido preparando papa de comida para Anne (que relutava em se alimentar), as enfermeiras trocando as fraldas de Anne, que se alegrava quando o marido cantava para ela algumas canções de sua infância. George chegou a dispensar uma enfermeira que tratava Anne como uma criança mimada: “Desejo, de todo coração, que um dia alguém lhe trate como trata seus pacientes, e que não haja meio algum de você se defender”.
Noutro dia, Eva chegou sem avisar, queixando-se por seu pai não atender mais o telefone. George explicou que Anne não queria mais ser vista neste estado em que ela se parece com uma criança: às vezes grita por socorro, de repente explode em gargalhadas, e depois chora. Mesmo assim, ele não queria ajuda de ninguém: “você e seu marido têm sua própria vida, e isso é bom. Deixem-nos viver a nossa, certo?”. A esta altura, já percebemos que George não apenas não queria atender o telefone, como também não queria receber visita alguma, estava cansado das pessoas em geral, cujo falso apreço nunca disfarçou a dó que sentiam. A normalidade que insistia em manter George e Anne atados ao mundo e um ao outro era a do gotejar contínuo da pia, em sincronia com a matéria que não cessa de pulsar, indiferente à lenta corrosão que carcomia os poros da pele por todos os cantos daquele apartamento.
Alguns dias depois, para acalmar Anne após ela ter gritado em desespero, George contou-lhe sobre quando seus pais o mandaram a um acampamento de férias, quando ele ainda tinha 10 anos de idade, e que esta foi uma das piores experiências de sua vida, porque ele não podia fazer nada além de esperar aquela tortura acabar. Ao terminar de contar essa história, George agarrou um travesseiro e sufocou Anne até a morte. Esta era a única saída que ele via para a tortura em que sua esposa se encontrava. O roteiro de Haneke opta por não deixar claro o que ocorre depois disso: George escreveu uma carta para ele mesmo, ou para ninguém – possível referência ao famoso “Carta a D.”, livro que André Gorz escreveu pouco antes de se matar ao lado de Dorine, sua esposa (também vítima de uma doença degenerativa) –, comprou flores para adornar o corpo de Anne, depois lacrou o quarto onde ela deitava morta e, por fim, abandonou o apartamento junto a Anne (ou sua provável projeção fantasmática). O filme se encerra com o apartamento vazio sendo visitado por Eva, com uma feição inexpressiva em meio à fragilidade de todos os objetos que ali permaneciam, cada qual em seu lugar.

Ao guardar a carta, nós a estamos enviando de algum modo, afinal. Não estamos abandonando nossa ideia ou rejeitando-a como tola ou desprezível (como fazemos ao resgar uma carta); ao contrário, estamos lhe dando um voto de confiança extra. Estamos, na verdade, dizendo que nossa ideia é preciosa demais para ser confiada ao olhar do destinatário real, que pode não compreender seu valor, de modo que a “enviamos” a seu equivalente na fantasia, em quem podemos confiar completamente para uma leitura compreensiva e apreciativa. – Janet Malcolm, The Silent Woman (Londres: Picador, 1994, p. 172, trad. minha).
III. Crença na permanência ou como (a)provar a consciência de si
O problema da autoconsciência, reforçado em Transcendence pela questão “como saber de si senão como efeito de uma cadeia neuronal já determinada?”, é facilmente ignorada ao percebermos, em Amour, que nosso corpo simplesmente sente que existe. No segundo filme, um sentimento de “estar vivo” nos invade de maneira irrefutável, ao passo que, em Transcendence, tal sentimento é tributário a um amor romântico-redentor que não possui espaço algum em Amour. Este contraste me parece fundamental para compreendermos a prevalência do corpo sobre todo esforço em ultrapassá-lo pelo intelecto, pela metafísica da alma e por qualquer tipo de reflexão filosófica. Temos então dois tipos distintos de desconfortos em relação ao corpo: de um lado, a indeterminação inerente ao fenômeno da autoconsciência e, de outro, a sensação demasiado crua de um lapso corporal antecipado que não é místico nem romântico, mas nulo, que não desemboca em lugar algum.
Pois bem, analisemos o primeiro tipo de desconforto. Trata-se da questão: isso que percebemos como autoconsciência existe previamente, como algo que nos determina, ou apenas atribuímos isso a nós mesmos à posteriori? Em outros termos: o caráter da consciência é puramente epifenomenal a partir do ponto de vista causal ou ela exibe causalidade própria? Para Kant, somos determinados por causas, mas também podemos determinar retroativamente quais causas nos determinarão. Na formulação hegeliana, o sujeito é um invólucro de reflexibilidade por meio do qual ele determina retroativamente não as causas que o determinam, mas o modo dessa determinação. Em ambos os casos, uma propriedade que é puramente virtual e relacional surge, sem qualquer identidade substancial, não sem um mínimo de idealismo. Afinal, se penetrarmos a superfície de um organismo e olharmos cada vez mais profundamente dentro dele, não encontraremos nunca um elemento central que estaria secretamente controlando seus órgãos.

No entanto, este último argumento também incorre noutro tipo de idealismo, o do materialismo reducionista. Porque a autoconsciência nunca foi um “cerne interno” de um organismo, e sim um acontecimento de superfície, como a tela de um computador: o que está por trás dela não é nada além de uma rede de mecanismos neuronais sem autoconsciência. Um conhecido exemplo seria o brinquedo japonês “tamagochi”, que ficou mundialmente popular na década de 1990: uma espécie de animal de estimação virtual, cuja presença se limitava a uma tela de poucos pixels. Devemos lembrar que, na época, este irrisório aparato nos causava certo espanto – não tanto porque as crianças ficavam nervosas e choravam quando a criatura morria, mas pela dedução de que nossas próprias relações por assim dizer “adultas” venham a se tornar uma espécie de “tamagochi”.
A questão é que nossas relações nunca foram diferentes disso, rostos que olham uns aos outros sem nunca chegar a ver o que há “por trás da tela”. Há por certo um efeito de “profundidade” que não se reduz a uma série de processos sem sentido (neuronais, genéticos, bioquímicos etc.), mas que se instaura a partir das relações intersubjetivas. Por conseguinte, o modo pelo qual vemos a nós mesmos, os traços imaginários e simbólicos que constituem nossa “auto-imagem”, esta fantasia que dá as coordenadas do ser único que somos, reside na singularidade através da qual cada sujeito se relaciona consigo mesmo, ou melhor, “escolhe a si mesmo” na relação com outros sujeitos. Logo, a condição de uma autoconsciência é meramente “performativa”, cujo fechamento no perímetro de um corpo, no entanto, ainda não explica o pretenso salto para um sujeito consciente, livre e autônomo.
É preciso considerar que, no cenário do pensamento contemporâneo, há pelo menos três correntes que tentaram destronar esta premissa clássico-cartesiana da soberania do sujeito: primeiro, a denúncia do humanismo metafísico por parte de Heidegger, depois, o estruturalismo (linguístico, antropológico e a versão althusseriana do marxismo) e, por fim, a renovação da psicanálise, de Freud a Lacan. Os três movimentos têm em comum a convicção de que não há sujeito que seja mestre de si mesmo, que possua total poder sobre seus atos, porque o discurso do sujeito serve de veículo através do qual algo muito maior que ele se pronuncia: a dinâmica de encobrimento/descoberta do Ser, o sistema de relações que estruturam o corpo social, o inconsciente. No entanto, também é preciso considerar que certos usos totalizantes dessas três vertentes tendem a transferir a dinâmica de criação e de expressão, tradicionalmente atribuída ao mito do sujeito autônomo, para uma entidade sistêmica tão autossuficiente quanto este, mas de maneira impessoal.

Ou seja, pode haver nos paradigmas anticartesianos a mesma pretensão acrítica, isto é, que não reconhece seus limites, a qual se denuncia no solipsismo cartesiano. É somente a partir de tal pretensão que se pode enunciar o falso impasse de Transcendence entre uma autoconsciência verdadeira (não alienada) e uma consciência impessoal (alienante) como parasita insondável que nos controla para alcançar seus próprios objetivos. O engodo deste impasse assemelha-se à ética provisória de Habermas em relação às intervenções biogenéticas, sobretudo no que concerne a possibilidade de manipulação psíquica. O que Habermas basicamente propõe é que, apesar de agora sabermos que nossas disposições dependem de contingências genéticas, vamos fingir e agir como se não fosse o caso para que possamos manter nosso (tradicional) senso de dignidade e autonomia. O paradoxo é que a autonomia só pode ser mantida proibindo-se o acesso à contingência natural cega que nos determina, isto é, em última análise, limitando nossa autonomia. Trata-se de uma nova roupagem para o velho argumento conservador segundo o qual, se quisermos manter nossa dignidade moral, é melhor não sabermos certas coisas.
Do mesmo modo, o impasse da indeterminação inerente ao fenômeno da autoconsciência somente adquire sentido mediante um princípio de “natureza” que não é nem matéria (ordem do acaso) nem artifício (produto da ação humana), mas algo que supostamente transcende a matéria inerte e que é alheio às ações do homem. Ou seja, trata-se de uma força vinda “de fora” como hipótese à questão: ou o homem criou a si mesmo ou foi criado por alguma força ordenadora. Ora, uma vez que não fomos nós que simplesmente resolvemos nos tornar autoconscientes, e descartada a irracionalidade do acaso, deve haver uma natureza sistêmica, dinâmica e teleológica que visa preservar o seu próprio sistema de vida. É este tipo de pressuposto que reside por trás de dualismos como homem x máquina, natureza x artifício – quer se expresse como força, vontade ou razão, trata-se de uma valoração que possa justificar o desejo demasiado humano de permanência para além de um corpo finito, vão e sem sentido.
Em outros termos, o corpo perece, mas a alma não, porque algo permanece nos genes reproduzidos ou, ainda, uma tradição se perpetua nas novas gerações. Em suma, crença na permanência. Nada há de mais religioso, pois, que a consagração de uma obra permanente por parte de uma natureza longínqua, paciente e persistente, que não cessa de nos programar e que nos presenteou com uma mente esperta o suficiente para sacar suas intenções – e nesta última suposição, o desejo de permanência se confunde com a história, a ideologia e a moral. Basta observar como a sociedade de modo geral vem lidando com os “riscos” à nossa permanência por conta das transformações ambientais, ou seja, como se houvesse alguma força que antecede a ação humana e que, portanto, é pura e inocente. Novamente, repete-se uma mesma ladainha conservadora: fala-se que deveríamos salvar a natureza, pois sua milenar existência dependeria de nós, quando na verdade somos nós que queremos ser salvos, uma vez que dependemos de certas condições milenares para sobreviver.

Com efeito, se a ideia de uma inteligência artificial e autoconsciente não é suficiente para desmistificar nossa percepção da “natureza humana”, é porque ela ainda soa como destruição de nosso senso de dignidade pessoal. Neste sentido, a escolha de Evelyn perante o êxito do experimento do Dr. Caster não foi entre a dignidade humana ou a geração tecnológica “pós-humana”, mas entre agarrar-se à ilusão de dignidade ou assumir de uma vez por todas que isso nunca passou de uma ilusão. O interessante é que, embora ela tenha ficado com a primeira opção, o breve instante em que sua mente conectou-se à de Will Caster (antes do vírus consumi-los por completo) ofereceu-lhe uma visão clara e inequívoca: somos todos artifícios de nós mesmos, criando a ilusão de nos percebermos como seres autoconscientes. Kierkegaard apontava para uma conclusão semelhante ao alegar que não podemos nunca estar certos de que acreditamos, nós apenas “acreditamos que acreditamos”.
Esta é a resposta para a redundante pergunta de “como provar sua autoconsciência”, retomada muitas vezes em Transcendence: se pensarmos na autoconsciência sem recorrer a um princípio de natureza, portanto sem a necessidade de se valer de uma necessidade, uma força preestabelecida que ordenaria vida e matéria, “provar” nossa autoconsciência teria menos importância do que aprová-la como tal. Ao invés de natureza, há apenas encontros e desencontros ao acaso, um constante compor, decompor e recompor da matéria, da vida, do que é dado como existência. E aquilo que chamamos (artificialmente) de autoconsciência, neste sentido, nada mais é do que um modo de existir entre tantos outros, sem nenhum privilégio a não ser o que os próprios homens se atribuem ao legislar em causa própria – mas definitivamente sem isentar-se de uma existência fortuita, casual e sem finalidade.
O artificialismo dos Sofistas, de Montaigne, de Nietzsche resulta plenamente em felizes encontros com uma “natureza” humana liberada da ideia de natureza. […] [Trata-se de fazer o homem] reconhecer como “sua” uma ausência de qualquer ambiente definível; acostumá-lo passo a passo à ideia de artifício, levando-o a renunciar progressivamente a um conjunto de representações naturalistas cuja ausência de caução na realidade nunca deixou de conduzir ao desapontamento e à angústia. […] o reconhecimento do artifício implica uma assunção do trágico, mas esta assunção, por sua vez, implica a serenidade e a alegria. […] Pois o homem do artifício diz sim a uma instância puramente negativa (o acaso), a qualquer coisa da qual sabe somente que é incapaz de pensar o que quer que seja. Este é o paradoxo constante da filosofia trágica, cujo objeto é alegrar-se sem razão e esmiuçar todo o horror do mundo unicamente pelo prazer de evidenciar o caráter inalterável de sua alegria – alegria da qual sabe que nunca poderá dizer nada, salvo com um balbucio ininteligível. – Clément Rosset, A antinatureza: elementos para uma filosofia trágica (Rio de Janeiro: Espaço e Tempo, 1989, p. 301).

Antes de avançarmos neste modo de pensar o corpo e a existência sem o desejo de permanência, abrindo caminho ao olhar trágico premente em Amour, vale mencionar duas direções que considero profícuas para pensarmos uma não-soberania do sujeito consciente. Em primeiro lugar, assinalemos uma questão foucaultiana: se é verdade que os modos de subjetivação produzem, ao objetivá-los, algo como sujeitos, como esses sujeitos se relacionam consigo mesmos? Quais procedimentos o indivíduo mobiliza a fim de se apropriar ou de se reapropriar de sua relação consigo? Em As palavras e as coisas, Foucault se prestou a demonstrar como o sujeito pôde, numa certa época, tornar-se um objeto de conhecimento e, inversamente, como esse estatuto de objeto de conhecimento teve efeitos nas subjetividades, isto é, na maneira pela qual o sujeito faz a experiência de si mesmo não a partir de uma identidade psicológica, mas por meio de práticas de poder ou de saber.
É preciso lembra que, para Foucault, o exercício do poder tem menos a ver com dominação de vontades, como sobreposição de uma vontade à outra, e mais com um “querer saber” que ao mesmo tempo nos sujeita e nos constitui. Seguindo este raciocínio, a subjetividade está em perpétuo desprendimento em relação a si mesma ao produzir um movimento pendular (entre determinações históricas e a resistência do pensamento sobre si) que enlaça uma singularidade: o lugar de invenção de si não está no exterior da grade do saber/poder, mas em sua torção íntima. O pensamento volta-se, portanto, contra o próprio pensamento, definindo seus limites e alcances, apontando suas imprecisões e impossibilidades, não para calar o pensamento, mas para fazê-lo falar sobre isso que não se pode pensar: a consciência de si.
Em segundo lugar, o caráter inassinalável de uma autoconsciência que, se não pode ser apreendida, tampouco pode ser ignorada, aponta para a condição hermenêutica de que o conhecimento só pode conhecer a si mesmo e nunca uma existência qualquer. Neste ínterim, é digno de menção o estudo personalista de Paul Ricoeur em O si mesmo como um outro, onde a invenção de si é apresentada como desvio em relação a um “si mesmo” que lhe escapa. Ao reconhecer seus limites, a autoconsciência não se restringe à autorreflexão solipsista, mas reconhece, com certo alívio e alegria, que existe algo “fora dela” que a constitui como obra fundamental em relação a um mundo que a circunscreve. Assim o sujeito se organiza, segundo Ricoeur, por meio de um processo interpretativo em que se confrontam sempre dois “eus”: o eu como obra e o eu como intérprete. A dinâmica da auto-formação implica, porém, certo apagamento do intérprete em favor da obra, uma “desapropriação de si” para deixar a obra que somos nos interpelar na sua estranheza e não só nos tranquilizar naquilo que nela projetamos, mas também produzir, graças ao confronto entre o universo do intérprete e o universo interpretado, uma transformação de ambos.

Em certo sentido, pois, Ricoeur é mais radical que Gadamer quando este falava de uma “reapropriação” da obra pelo intérprete que a produziu. Afinal, o processo hermenêutico do sujeito autorreflexivo o desapropria duplamente: obriga-o a uma ascese primeira diante da alteridade de si mesmo como obra e, num segundo momento, desaloja-o de sua identidade primeira para abri-lo a novas possibilidades de habitar o mundo. Em última instância, o reconhecimento prático da impossibilidade, para o sujeito, de se apreender imediatamente a si mesmo – a ruína do ideal cartesiano, fichtiano e husserliano de uma transparência do sujeito a si mesmo – abre espaço para uma relação de pertencimento desse sujeito ao mundo, o que passa necessariamente pelo espelhamento das narrativas em relação a cada existência individual e por uma “reescrita” de si e do mundo como amplificação interpretativa.
IV. Para além do cogito ferido, corpos que afetam a si mesmos
Analisemos agora o segundo desconforto, acentuado em Amour: a sensação demasiado crua de um lapso corporal antecipado que não desemboca em lugar algum. Trata-se aqui de pensar o corpo e a existência sem mais o desejo de permanência, mas como marca inequívoca de uma vida expressa pelo acaso, pelo artifício, por nossa incapacidade em dar a nós mesmos outras imagens e outros sentidos para além das formas efêmeras da imaginação. Haneke filma um cotidiano familiar, regrado, cheio de códigos convencionais, de uma pianista sensível e delicada que aos poucos opta por não ouvir música alguma e, tal como a morte de Ivan Ilitch (Tolstoi), desconecta-se do mundo sem uma última palavra. George não lidou com isso de maneira heroica ou amparado por algum dever moral qualquer, pelo contrário, é como se ele nos dissesse que, se havia algo a aprender, não aprendemos. Então é bom perdermos a confiança no tempo, porque de um momento para outro tudo pode vir abaixo.
Fiel a esta denúncia de qualquer justificativa daquilo que permanece injustificável, George enfrentou a escolha da aprovação – a meu ver, anular o sofrimento de sua esposa é a decisão ética de que toda agonia precisa chegar ao fim. Claro que, mediante todo tipo de convenção moral, este ato deverá ser condenado socialmente, mas o diretor austríaco parece insistir que a prática dos homens sempre escapa da ação previdente e ultrapassa sua autorreflexão, fazendo avançar algo de inescrutável, como que a contragosto. Este aspecto é sutilmente ilustrado pela pomba que entra e sai no apartamento de George: ela provoca certa estranheza, rompendo com a narrativa seca marcada pela rigidez dos planos fixos. E quando a pomba é finalmente capturada por George, que a abraça quase como uma criança, logo entramos na esfera da fabulação, onde Anne terminava de lavar a louça para passear com o marido no parque – uma renúncia de si no transcurso de um final solitário.

A câmera de Haneke não nos revela o fim de George, sua fuga fica apenas sugerida, mas por meio dela vislumbramos uma poética do afeto urdida na facticidade da não-duração e na consequente renúncia do eu, não por uma ilusão de permanência, mas pela entrega ao outro. Não se trata, portanto, de um afeto amistoso, leal e exemplar, mas de um gesto violento que solicita uma afecção aquém de qualquer princípio, ordem ou ideal, coincidindo apenas com um corpo que sofre e goza, um corpo que quer viver e que cedo ou tarde vai querer morrer. O conhecido teor trágico de Haneke, deste modo, renova-se na contramão do discurso crítico e recorrente da impossibilidade de afeto “real” nos dias de hoje, como se nossos encontros já estivessem fadados ao véu da superficialidade espetacular. Amour não nega este cenário, mas também não emite um juízo acerca dele; a relação ali retratada se mede por ela mesma, porque o valor e o sentido de uma história dependem sempre da própria história e não de um sistema referencial externo. Por isso o ápice da comunicação do casal ocorre no cessar da linguagem de Anne: aos balbucios, eles cantavam uma tradicional cantiga francesa, como se, ao deixar de conversar, ambos passassem a compreender-se reciprocamente.
É neste registro afetivo-corporal, do encontro de mãos, do olhar silencioso e da cumplicidade serena que se desenrola um discurso poético que parece resistir a uma linguagem meramente performativa. O terreno da infância, evocado no decorrer da fragmentação de Anne, não se associa a ideias de pureza e inocência, mas aponta para certa amoralidade que tenta reconciliar, no avançar da idade, o corpo às aporias de sua autoconsciência. É como se houvesse tanto na velhice quanto na infância um mesmo mecanismo aprovador que tende ir além de toda explicação para afetar qualquer incômodo racional em favor de uma alegria incondicional com relação à vida presente, passada e por vir. Em contraste flagrante, há também o horror de uma existência dolorosa, frágil e inserida num processo definitivo de decomposição. Assim o gosto da vida coincide com o odor da morte, e toda tentativa visando exprimi-los se dissolve necessariamente em um balbucio inaudível e ininteligível.
As condições e as possibilidades da experiência temporal, é preciso não perder de vista, dependem da articulação ou ordenação narrativa (o que os gregos chamavam de mythos) dos diversos afetos, acontecimentos e ações. No entanto, a ocasião nem sempre faz um ladrão, isto é, um fato triste não se esgota necessariamente na triste narrativa que o circunscreve. Sem ter isso em mente, corremos o risco de interpretar a persistência de George como um impulso romântico, que frente ao trágico tenderia à melancolia e à tristeza. Há uma diferença entre o trágico melancólico e o trágico per se: o primeiro falha na descrição do que não é, o segundo ao tentar expressar o que é. O melancólico não sabe precisar o motivo de sua tristeza, nem a natureza daquilo que lhe falta – ou, como dizia Baudelaire, o que lhe falta não figura no registro das coisas existentes. Este não me parece ser o caso de George, que não tem contas a acertar com o irreal e sabe exatamente o que lhe entristece, embora não consiga dizê-lo; afinal, seu sentimento basta a si mesmo e não precisa de nenhuma fiança para existir.

Se ele luta para manter sua companheira viva para depois morrer junto com ela, não é em pesar contra a fugacidade da existência, mas sim como afirmação da completude afetiva que pode haver em meio à precariedade da vida. A convicção do fim definitivo, a contingência do corpo e a não-necessidade do próprio existir pode gerar agonia e desespero, mas partilhá-las com alguém também pode gerar uma plácida sensação de alívio: eu poderia ter sido de outra maneira, ou mesmo não ter sido ninguém, mas não escolhi existir e por sorte não fui o único. “Je suis la vivante non-nécessité d’exister”, como afirma Ricoeur, somos a vivente não-necessidade de existir. Enquanto alguns deduzem disso a resignação de uma falta de coisa melhor, outros se alegram profundamente com este “quase nada” em contraposição ao indubitável nada que nos precede e nos espera. Desta alegria provém todo o amor de George por Anne, sentimento a um só tempo incondicional e não ilusório.
Num sentido ao mesmo tempo paradoxal e trivial, penso que o amor consiste ou numa superação partilhada (negação ilusória e efêmera) do trágico da existência, ou consiste, pelo contrário, numa aprovação partilhada da existência tida por irremediavelmente trágica. Em ambos os casos há contentamento, mas apenas o segundo tipo não tem reservas, porque permanece perfeitamente consciente acerca das infelicidades que compõem a existência e, embora sem argumentos, considera-a indiscutivelmente desejável. Mas como conhecer e aceitar as infelicidades sem tornar-se insensível por isso? Esta é a sensibilidade que parece querer expressar Michael Haneke na película vigente: só pode haver alegria se ela for ao mesmo tempo contrariada e se estiver em contradição consigo mesma – assim como todos os grandes afetos, que são paradoxais ou não nos afetam. Do mesmo modo em relação ao corpo: engendrando desejos e pensamentos, sempre lhe faltará uma “razão de ser” que justifique suficientemente o sofrimento e o regozijo que implica viver.
Com isso, retomando os dois desconfortos suscitados ao longo de nossa breve análise, podemos concluir que são desconfortos relativos, isto é, insuficientes se confrontados entre si. Em Transcendence, o desconforto diz respeito a uma autoconsciência que só poderia ser “provada” com uma lógica que a determina – mas que deixa de ser um desconforto caso se retire a necessidade de um desejo de permanência justificado por uma “natureza” determinante. Em Amour, o desconforto concerne a um corpo que se sente vivo à medida que se conscientiza de sua fragilidade e finitude – mas cuja aprovação trágica, sobretudo partilhada com alguém, converte-se num modo de ser incondicional e indizível. Um desconforto reflete o outro e ambos nos confrontam com um real que requer ser aprovado. Tal aprovação, entretanto, é narrada apenas em Amour por meio de um elogio ao corpo, ao cheiro de sua decomposição, um odor que impregna o carpete, os lençóis, as cortinas, compondo uma alegre fragrância que dura toda uma vida e não mais que isso.

Michael Haneke com os atores Jean-Louis Trintignant e Emmanuelle Riva





Comentários
Os comentários estão encerrados.