
Esboço da compreensão involuntária da incompreensão
No começo é difícil, depois a gente se acostuma. Ou a gente se acostuma porque não deixa de ser difícil? Não se trata de dificuldade, é que o imprevisível só se cria neste amontoado de histórias já conhecidas. Nem se eu tentasse mil vezes conseguiria me fazer entender. Cada tentativa é outra em relação a si mesma. Uma vez eu corri feito louco e a queda tingiu de roxo minha perna. Disseram-me para fazer tudo devagar, com bastante calma. Assim constatei certa velocidade que há na lentidão, aquela de um ônibus que nos atropela por andarmos distraídos. Sorte que sou concentrado. Não importa o quanto eu tente, não me distraio. A não ser apenas com o jeito desengonçado com o qual me concentro. Será preciso cair novamente para manter-me de pé? Daquilo que os olhos querem prever eles ainda conseguem se lembrar? [anotações minhas].
I. O segredo é que não há segredo.
Após usar o banheiro, apertei o interruptor de luz e, por alguns segundos, esperei que isso acionasse a descarga. Este breve testemunho funcionaria para introduzir praticamente qualquer assunto: design, política, ontologia, arte etc. Em parte porque o discurso não-ficcional, justamente por declarar-se como tal e nem por isso deixar de inventar a própria “verdade” que se propõe a evidenciar, talvez seja o mais ficcional que existe. Em parte porque há, nos dois “lados” do texto, uma predisposição mínima de alguém em refletir-se e ver-se refletido, por comparação e analogia, muitas vezes sem ninguém saber sobre o que exatamente o texto se trata. Mas o fato é que eu apenas confundi a descarga com a luz e não há nada mais a ser compreendido neste episódio.

Aquilo que não poderia ser outra coisa pode ainda ser compreendido? Quer dizer, o que de fato há para se compreender nos acontecimentos que nos acontecem, repetindo-se ou se fazendo variar? Haveria algo mais que representações, textos e conjuntos ritualizados de discursos que são narrados, retomados e adaptados conforme circunstâncias específicas? Não é preciso um olhar atento para descobrir que, entre as coisas que acontecem e nossas tentativas de compreendê-las, persiste algo de inconciliável. O que talvez seja mais difícil de enxergar é que, se continuamos tentando “conciliar” as coisas por meio de ações, discursos, símbolos, obras etc., a lacuna reside menos nas coisas e mais em nossas tentativas de compreendê-las.
Ou quem sabe nem seja tão difícil assim, porque mesmo tal proposição, para além da formulação ora designada, permanece passível de ser dita e ainda assim não se mostra suficiente. Não porque nela exista algo como um segredo ou um princípio inesgotável, mas simplesmente porque contradiz o ato mesmo que a pronuncia. Em outras palavras, é preciso tomar o enunciado como se tudo já estivesse ali, como se assim tivesse sempre sido, o que implica correr o risco de não saber se a coisa enunciada aconteceu de fato e se estávamos ou não ali para testemunhá-la. É como acordar com um tipo de amnésia definitiva e esforçar-se para reconstituir as imagens registradas nas fotografias, como se cada detalhe desmentisse o conjunto ao qual alude.

Quando escrevo ou leio um texto, gosto de pensar neste esforço de reconstituir uma expressão que contradiz aquilo a que ela própria se refere. Compreender ou expressar aquilo que não poderia ser outra coisa implica duvidar dos referenciais que temos para compreendê-lo ou expressá-lo. Assim o pensamento permanece em jogo, como uma aposta tão arriscada quanto a de uma pretensa resposta única para tudo. Quero crer que, de modo geral, são as respostas que mudam a cada instante, sem nunca tangenciarem diretamente o fato mesmo que a suscitam; fato este que, por não contradizer a si mesmo, nunca precisou de resposta alguma: o fato de que, quando apertei o interruptor de luz, nenhuma descarga foi acionada.
II. Nada há para se ver atrás da cortina.
Do que se pode lembrar? De uma noite ou uma tarde que reconfigure um amontoado de histórias que nunca foram vividas senão como “inspirações” ao que não se pode mudar. A memória diz menos respeito ao que não se pode mudar e mais à precisão de cada sentido que se altera a partir disso. A mancha de vinho que reaparece quando olho aquela toalha agora limpa nunca é a mesma mancha. O sentido da mancha é sua total incapacidade de manchar do mesmo modo. Não há mancha alguma antes da coisa manchada, antes do olhar distraído que não a anteviu, só que de algum modo ela continua a manchar os olhos que não mais a enxergam. [anotações minhas].

O design opera como mediação simbólica somente na medida em que a “aparência” das coisas se valha pela própria aparência, tornando-se ponto de convergência para os diversos referenciais em disputa nas controvérsias inerentes a qualquer aposta de compreensão do mundo. O problema no design não é o de falar ou escutar, e sim o de ver e dar-a-ver. O problema é o de conseguir narrar e ao mesmo tempo ver-se narrando. Tudo que há nos mecanismos de linguagem não passa de imitação, reprodução, récita de uma história, de uma imagem ou mesmo de uma palavra que, a cada vez que é retomada, deixa escancarada a diferença de sentido entre um momento e outro. Porque existe na linguagem uma espécie de distância incontornável: as palavras são menos numerosas que as coisas, cada palavra possui vários sentidos e não há o que nela se deixe fixar.
Ocorre que a linguagem serve não para compreendermos o mundo, nem a própria linguagem, mas a nós mesmos em relação a um mundo que se introduz nas variações de sentido que as palavras fracassam em estabilizar. E quanto às coisas que acontecem? Continuam a acontecer, desfazendo toda determinação antes mesmo de se fazerem “presentes”, escapando, pois, ao próprio atributo lógico de “acontecimento” que só existe na ordem dos sentidos. Dizer que não existe uma coisa “em si” ou que o mundo somente é ordenado pela linguagem não é o mesmo que dizer que não existem coisas reais, que não existem ações e reações das coisas no espaço e no tempo. Significa dizer que o mundo é aparência de mundo, e que não há um “verdadeiro” e um “falso”, há apenas singularidades sempre a um passo adiante do sentido que a elas determinamos.

Tal mundo como aparência de si, ordenado por sentidos “acrescentados” mas sem deixar de ser este “espaço em branco” de singularidades indefinidas, é o único que existe e, portanto, o único que pode ser pensado. A distância do sentido em relação ao mundo nunca implicou nem implicará impossibilidade de expressar o mundo. Toda expressão quer a “verdade” do que foi vivido e nada fora disso. Não há o que ver por trás das coisas vistas, não faz sentido pensar no que sequer foi pensado. Não há lugar para ideias de permanência e estabilidade se para dar conta do fluxo vivido é preciso estar em consonância com ele, isto é, vivendo-o. Se no fundo desejamos poder dizer tudo sobre aquilo que nos afeta, é porque o expressar-se não quer descolar-se do viver.
III. A explicação que não explica nada além de si mesma.
A exatidão do que escrevo é inversamente proporcional ao gesto repetitivo e previsível que me leva a escrever. Os dedos que digitam não podem ver o que digitam. Se eu vejo, é porque deles estou distraído. É preciso me concentrar para me distrair. Concentro-me na situação em que eu interagia com alguém, nos fluxos de pensamento interrompidos, na reação curiosa ou indiferente das pessoas… mas nunca nas palavras. E somente estas ficam registradas, como vestígios em aberto de um vir-a-ser outra coisa. As palavras nunca estiveram no passado, ainda que nos apareçam como “acabadas”. É como se sua falta de sentido fosse apenas o desejo de que um mesmo sentido não se repita da mesma forma. Que continue como uma palavra ainda não lida. [anotações minhas].

O que é a vida? Não é possível enunciar qualquer proposição sobre a vida sem antes, de maneira subjacente, lançar mão de uma imagem ou ideia de “vida”. Ora, que o pensamento se ponha como pressuposto, Kant o demonstrou longamente. O pensamento e a coisa pensada seriam assim idênticos, desde que o idêntico ao pensamento seja a coisa pensada e não a coisa enquanto ser, em si mesma. Em Hegel, por sua vez, trata-se de alcançar a verdadeira identidade da coisa e do pressuposto, portanto o Absoluto que suprime essa diferença ao conservá-la dialeticamente como aparência necessária. A pretensão hegeliana, pois, é a de partir do pensamento para mostrar que tal pensamento e suas limitações conduzem a um saber absoluto que teoricamente os pressupõe.
Estou convencido, entretanto, de que nem Hegel nem Kant conseguiram acessar o que quer que seja sem a mediação do pensamento. Mas para não cair na armadilha de considerar que o mundo e a vida se reduzem às mediações que estabelecemos, creio que o mais eficaz é pensar que a vida não se pensa, mas se vive. O que ainda poderia gerar um falso impasse: de um lado o pensamento e, de outro, o viver. O impasse é falso porque somente um instrumento externo poderia colocar o pensamento de um lado e a vida de outro; e no entanto o único instrumento que temos (a mediação do pensamento) é interno à própria vida. De maneira análoga, a antropologia se define como um discurso sobre o homem, mas de tal modo que não estão separados aquele que fala e aquilo sobre o que se fala. Neste sentido, qualquer pergunta sobre o “ser” não se descola da condição de ser, o que equivale a dizer que toda ontologia é antes uma antropologia.

Mais amplamente, eu diria que qualquer discurso (antropológico, ontológico, psicológico etc.) é antes uma hermenêutica: não há a questão do “ser”, só há a questão do sentido de ser. Nada além do sentido há para ser compreendido, ainda que, ao mesmo tempo, qualquer sentido não se refira a nada do que é. Dizer que basta este mundo-aqui não é somente dizer que ele nos basta, mas que ele basta a si mesmo independentemente de qualquer sentido – não como uma essência para além da aparência, não como um segundo mundo duvidosamente inteligível, mas como sentido que não é outra coisa além do que aparenta ser. Em outras palavras, retomando a questão sobre o que é a vida, o sentido da vida é que ela não é outra coisa senão “vida”.
Tal redundância, por certo, não nos diz nada. Poderíamos redefinir a vida como uma imensa ampulheta que se extingue, o que continuará não dizendo nada àqueles que porventura não fazem ideia do que seja uma ampulheta. Temos aqui novamente um falso impasse: ou o sentido limita-se a dizer o já dito, a mostrar o já visto, ou não diz nada do que é, como uma abstração aleatória. É claro que qualquer sentido limita-se à possibilidade linguística de defini-lo, só que o impasse é falso porque qualquer sentido é verificável apenas por ele mesmo. Explicar, que no latim significa “desdobrar”, implica recorrer a um termo “equivalente” (imensa ampulheta) para expressar uma coisa (vida) que, no entanto, não precisa de outra coisa para ser dita. Não há nada de errado em explicar as coisas, desde que se saiba estar criando outra coisa, com o risco de confundi-las ou de substituir uma por outra. É no reino do mesmo que habita a diferença.
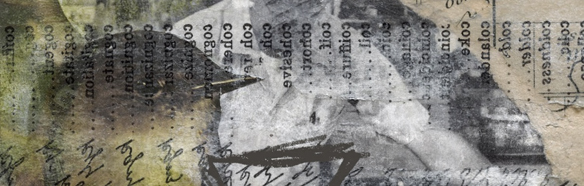
IV. Compreender é fazer falar o que se quer compreender.
Se eu conseguisse me concentrar o suficiente poderia compartilhar a distração que me mantém concentrado. Uma atenção desatenta aos detalhes. Prazos, projetos, ideias e um gato preto que não sai do meu lado, indiferente – deve ser assim que ele me vê também. Queria lhe dizer que ficarei aqui até o tempo que for preciso. Pretensão tamanha seria supor que ele ainda não o saiba. Eu queria saber pelo menos uma vez! Se não se escapa da especulação talvez seja porque a exatidão nos é dada por acréscimo. O destino guia aquele que consente e arrasta aquele que o recusa; acho que isso é do Sêneca. Compreensão é este atalho irônico que leva diretamente da coisa em si à coisa que o pensamento quer compreender. Porque é a mesma coisa. [anotações minhas]
Há muito de lucidez em não compreender as coisas. Não tanto como Ulisses acorrentado ao navio sonhando com um canto que não escuta, até porque, no fim das contas, nada o impedia de escutar o que queria escutar. São nos cantos que as paredes se encontram, é no canto dos olhos que finda o olhar. Palavras que não alcançam as coisas, ouvidos que não escutam senão o canto que eles mesmos produzem. Quer dizer, embora possa parecer um tanto inútil ocupar-se com um pensamento que não foi expresso – o pensamento expressa-se enquanto pensa –, nada garante que a recíproca seja verdadeira: o que se expressa não foi necessariamente pensado. A expressão assim se mostra uma condição, se não necessária, ao menos incontornável do pensamento.
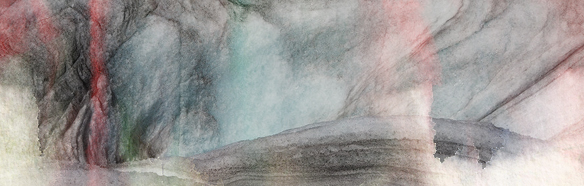
Se eu digo que vida significa vida, não é porque a palavra “vida” seja equivalente à “vida em si”, mas porque esta, a vida em si, não se distingue da expressão que faço dela – o que também não a fixa num sentido único e universalmente válido, mas me permite, ao contrário, continuar referindo-me à vida para dizer coisas diferentes com uma mesma palavra. Com efeito, tautologia é ao mesmo tempo condição e consequência da metáfora. Porque não é o mundo que se adapta ao sentido, mas o inverso. O mundo não delimita a linguagem, mas fora dele a linguagem não faz sentido, é muda, desaparece junto à lógica que a constitui. Quando Nietzsche fala de “tornar-se o que se é”, não é que haja um sentido de ser dado de antemão, mas exatamente o contrário: a dificuldade de ser é a dificuldade de não ser outra coisa. O sentido de “sou o que sou” sempre está para ser inventado, como confirmação árdua da singularidade que implica ser o que se é.
É isto que significa fazer-falar o que se quer compreender: pôr em evidência o que já está em evidência, dar sentido e expressividade ao in-significante, ao que se abre ao acaso, à ocasião que não se pode mudar, retocar ou substituir e que nem por isso se deixa reduzir a um único sentido. Se o mundo é visto, sentido e vivido, pode ser pensado. O que implica expressá-lo, (re)apresentá-lo, narrá-lo, compreendendo não tanto o mundo em si, mas o sentido que o faz falar, portanto nossa relação com este mundo – “compreender a si compreendendo o mundo”, como expressa Paul Ricoeur. Tal compreensão não “troca” o mundo por outra coisa, ainda que muitos insistam em fazê-lo, mas opera como mediação instaura um ser-no-mundo ao fazê-lo falar.
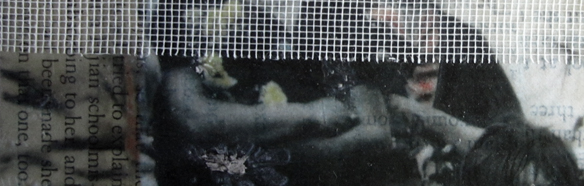
As noções de expressão e narrativa servem para mostrar que o mundo não pode ser vivido senão como “mundo”, isto é, como sentido ilimitadamente heterogêneo a partir de um mecanismo limitadamente previsível que é a linguagem. Estamos imersos em histórias, de modo que qualquer atitude perante a vida somente se faz compreender por intermédio de uma narrativa. O esforço de existir é o de dizer de outro modo o já dito. É, numa palavra, construir uma história que possa ser chamada de “mundo”, que me permita compreender e explicar não só o sentido de minha existência no mundo, como também, sobretudo, a existência desse sentido no mundo em que eu existo. A existência do mundo em si não precisa ser compreendida, não precisa de nós. O mundo existe sem história alguma e nunca conseguimos ordená-lo por definitivo. Ainda assim o expressamos, esforçando-nos para que a pobreza da linguagem se torne sua própria riqueza. Por mais que a história de alguém não se confunda com a de outrem, ambas coincidem com uma mesma história, com um mesmo interruptor que nunca aciona a descarga, com uma mesma viagem só de ida – aquela que chamamos de “mundo”.





Comentários
Os comentários estão encerrados.