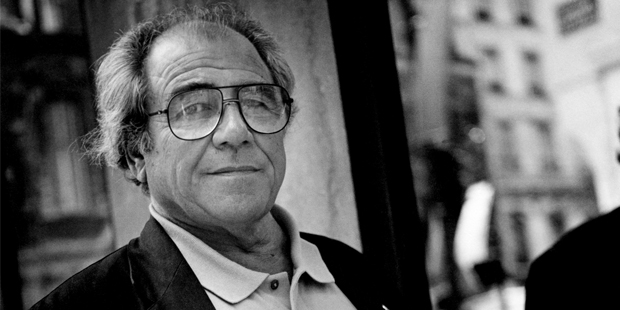
À sombra das senhas quase silenciosas
Alguns escritores, em seu estilo e postura, provocam intencionalmente desafio e olhar crítico de seus leitores. Outros apenas nos convidam a pensar. As demandas hiper-prosaicas de Baudrillard pedem somente um resmungar de olhos arregalados ou um assentimento desnorteado. Ele anseia influência intelectual, mas afasta qualquer análise séria de sua própria escrita, mantendo-se livre para saltar de uma asserção bombástica para outra, não importa o quão contraditório isso possa parecer. Seu truque é simplesmente o de fazer com que comprem seus livros, adotem seu jargão e mencionem o seu nome sempre que possível. – Denis Dutton, Baudrillard Review (Philosophy and Literature n. 14, 1990, trad. minha).
A crítica supramencionada assemelha-se a dezenas de outras críticas dirigidas contra a obra de Deleuze, de Cioran, de Žižek e até de Nietzsche, de modo que a denúncia básica de “adotarem seu jargão sempre que possível” parece referir-se mais aos críticos do que aos autores criticados. Neste caso, a dificuldade falsamente imposta pelo discurso de Baudrillard provém da contradição e da ironia permanentes em suas provocações que, no conjunto de cada texto, instauram uma contundência e uma reversibilidade tais que não isentam nem aqueles que, como o comentarista acima, rendem-se ao olhar “pós-moderno” por eles próprios denunciado.
Mas num ponto os críticos de Baudrillard têm razão, ao menos conforme constato em minhas tentativas sem êxito de interlocução: a ambivalência de sentido é seu artifício maior, não havendo como estagnar qualquer enunciado numa lógica segura além da reversibilidade de toda lógica enunciada. Tal estratégia é explicitada em Senhas, livro escrito “por encomenda” em 2000 com o intuito de esclarecer as palavras-chave da obra baudrillardiana – tarefa esta basicamente invertida por Baudrillard. Quero aqui analisar tais “senhas” sob a parcialidade de minha leitura atual, mas não sem antes contextualizar esta reversibilidade que é tão cara a Baudrillard.

I. Senhas à margem do acesso ao blefe
É paradoxal fazer o panorama retrospectivo de uma obra que jamais pretendeu ser prospectiva. É de certo modo como Orfeu voltando-se antes do tempo para ver Eurídice, e, com esse gesto, devolvendo-a para sempre aos Infernos. Seria o mesmo que fazer como se a obra preexistisse a ela mesma e apresentasse desde o início o seu final, como se ela fosse uma obra acabada, como se ela se desenvolvesse de maneira coerente, como se ela tivesse sempre sido. Por isso não vejo outro modo de falar dela senão em termos de simulação, um pouco à maneira de Borges reconstituindo uma civilização perdida por meio dos fragmentos de uma biblioteca. Isso significa que não posso sequer levantar a questão de sua veracidade sociológica – questão à qual, aliás, eu teria grande dificuldade de responder. O que é preciso, sem dúvida, é colocar-se na posição de um viajante imaginário que deparasse com estes escritos como quem depara com um manuscrito esquecido e que, sem ter outros documentos de apoio, se esforçasse por reconstituir a sociedade que eles descrevem. – Jean Baudrillard, Prefácio de “Senhas” (Rio de Janeiro: Difel, 2007, p. 5).
Digamos que o saber científico me leva a crer que a cadeira em que estou sentado não passa de uma nuvem de partículas flutuando em um espaço vazio. Isso não impede de eu confiar na solidez da cadeira. Alguns poderiam até dizer que o conhecimento acerca de tais partículas sustenta (ou “revela”) a dimensão imediata de nossa experiência objetiva, aumentando nossa confiança nela. Mas não me parece ser tão simples dizer o mesmo em relação a nós mesmos: o fato de que meus neurônios emitem sinais elétricos não sustenta nem revela uma autoconsciência desejante a que posso chamar de “eu”. Para tanto, podemos recorrer à ideia de Deus que, na tradição ocidental, representou um modelo satisfatório de autoconsciência (homem como imagem de Deus).
Em contrapartida, quando Nietzsche postula que Deus morreu, não é porque agora sabemos que Ele nunca existiu, e sim porque “matamos” as coordenadas, no ato mesmo de legitimá-las, que definem o “eu”. Não se trata de oposição entre fé e saber, mas antes do embate do homem para consigo mesmo. Com efeito, não é de se espantar que a efervescência de fórmulas instantâneas e salvacionistas – não só no âmbito religioso, mas também no político-ideológico, no relacional e no de consumo –, vem acompanhada da desconfiança no outro e em si mesmo. Tal desconfiança, por sua vez, aproxima-se menos da dúvida e mais da certeza, qual seja, a de que somos passíveis de ser enganados – o que culmina tanto em condutas passivas e apáticas quanto em abertura ativa ao blefe. Precisamente, se modelos tradicionais de divisão social (os que servem e os que gozam) aparentemente perdem força, talvez seja porque o gozo apareça a todos como blefe acessível.
Por isso, se a coisa abriu-se embaixo e o fascínio pelo blefe superou o reflexo de toda tradição, é porque a coisa abriu-se em cima. Como? Pela falência. A igreja faliu – quanto ao domínio da fé; a justiça faliu – quanto à aplicação da lei; a família faliu – quanto à sua representação; o valor aristocrata/burguês faliu – porque agora pertence a todos; a cidade faliu – como ideia de uma coexistência pacífica. E se tudo faliu, é porque tudo apareceu, é porque a sua aura deixou-se sob o seu próprio blefe e se entregou a sua própria condição: ser pervertida. – Louis L. Kodo, Blefe: o gozo pós-moderno (São Paulo: Zouk, 2001, p. 41).

Esta falência “por cima” a que se refere Kodo significa que o “eu” obsoleto não desapareceu por completo; pelo contrário, tem adquirido mais força no imaginário prometeico de um cotidiano em que, conforme diagnostica Lipovetsky, o lazer é cada vez mais regrado em função de uma eficiência da diversão. Logo, a falência reside mais nas instituições que, ainda conformadas ao projeto prometeico do “esclarecimento”, aprimoram-se na produção de “eus” obsoletos. Numa sociedade que se quer economicamente rentável, o indivíduo flagra-se incapaz de escolher sua própria finalidade nela, pois para ele é oferecido um mundo de possibilidades onde qualquer escolha é válida (porquanto previamente escolhida). Modernidade “pós-moderna”?
Um breve adendo aqui: em seu Pós-escrito ao Nome da Rosa (RJ, Nova Fronteira, 1985), Umberto Eco define o pós-moderno como uma “forma de operar” não cronológica, mas presente em diversos momentos ao longo da história, funcionando não como uma negação do passado (como o faz, por exemplo, o projeto estético futurista), mas como uma revisita irônica e anti-nostálgica a este passado. Giorgio Agamben, em seu O que é o contemporâneo? (2009, p. 55), evita o termo pós-moderno, mas define o “contemporâneo” de maneira similar a Eco: como aquilo que não coincide com seu tempo, que está um pouco “fora de lugar”, o que presume certo distanciamento daquilo que no presente não podemos viver e, “restando não vivido, é incessantemente relançado para a origem, sem jamais poder alcançá-la”. O adendo é necessário porque, se Baudrillard é tido como pós-moderno (rótulo que ele sempre recusou), talvez seja somente no sentido pelo qual Flusser e Teixeira Coelho, cada qual à sua maneira, compararam o tempo presente com o período Barroco. Ou seja, longe da ingênua ideia de que a cultura contemporânea é transparente e facilmente traduzível, trata-se de identificar narrativas que aparecem, num discurso ou noutro, anacrônicas e concomitantes entre si.
Exemplo de tal anacronia ironicamente contemporânea seria o caráter de “dever moral” que o gozo estaria assumindo na sociedade contemporânea. Baudrillard (antes mesmo de Lacan e Žižek) insistia que, ao contrário da “abundância” prometida pela revolução industrial, a então chamada “sociedade do consumo” funcionaria por meio de uma “escassez controlada” material e simbolicamente, regulando fatores de distinção social (como carência e privilégio) ao preservar o estado de insatisfação permanente que caracterizaria o consumidor modelo.
[…] a melhor prova de que o princípio e a finalidade do consumo não são o gozo, é que o gozo, hoje, é obrigatório e institucionalizado, não como direito ou como prazer, mas como dever do cidadão […] o homem-consumidor se considera como devendo-gozar, como um empreendimento de gozo e satisfação. – Baudrillard, A sociedade do consumo (Lisboa: Edições 70, 1975, p. 112, grifos do autor).

Logo, o imperativo de “permitir-se gozar”, que não é nada novo (vide narrativas hedonistas do século XIX), serviria hoje como caução à injunção proibitiva de “não gozar” – um indivíduo que goza livremente “correria o risco de se tornar antissocial” (ibidem, p. 113) –, seguindo uma lógica eficiente de dissimular desigualdades sociais justamente por meio da igualdade de oportunidades econômicas dentro de uma sociedade que se apresenta como democrática e igualitária. Em suma, a insatisfação resultaria do agenciamento de distinção social e seria o que mantém paradoxalmente “em equilíbrio” a tensão entre carência e prestígio numa sociedade de consumo.
Só que o blefe a que se refere Baudrillard não se reduz a tal injunção perversa. O blefe remonta à própria existência humana como contingência reversível: não há outra necessidade de existir a não ser a da aprovação de uma existência sem determinação alguma. Se toda finalidade, seja existencial ou histórica etc., aparece circunscrita à convenção, aos discursos e às circunstâncias da configuração social, o que menos importa é o que se escolhe, já que todas as escolhas se equivalem em relação às coordenadas preestabelecidas. No entanto, o gesto mesmo de escolher, a aposta, o blefe, é o que garante a reversibilidade dessas coordenadas que o determinam.
As palavras têm para mim extrema importância. Que elas têm vida própria e que são, portanto, mortais, é algo evidente para todo aquele que não se prende a um pensamento definitivo, de intenção edificadora. É o meu caso. Há na temporalidade das palavras um jogo quase poético de morte e renascimento: as metaforizações sucessivas fazem com que uma ideia se torne sempre algo mais diverso do que antes era – uma “forma de pensamento”. […] Por conseguinte, como as palavras passam, transpassam-se, metamorfoseiam-se, tornam-se transmissoras de ideias segundo fieiras imprevistas, não calculadas, a palavra “senhas” permite, a meu ver, re-aprender as coisas unindo-as em um todo coerente e, ao mesmo tempo, abrindo-as a uma perspectiva mais ampla, panorâmica. – Baudrillard, Prefácio de “Senhas” (op. cit., p. 7-8).

Significa que, em última análise, nunca houve nenhum projeto a se realizar, nenhuma finalidade dada, nenhum modelo pronto de homem ou de humanidade (além de conceitos sem concretude). A existência é tão contingente quanto reversível: por um lado, o homem pode ser levado pelas contingências, realizando-se individualmente e sendo aceito por uma sociedade que nunca deixou de lhe oferecer uma “liberdade” que ela mesma produz e regula; por outro, o homem pode reverter este mundo amplo de possibilidades dadas em um ser-no-mundo cujo sentido é constantemente reinventado por escolhas não tomadas de antemão.
Para além de uma dicotomia esquemática, o caráter contingente da existência é o que a mantém desde o início “em jogo” (en jeu), fazendo dela uma aposta (enjeu) tão importante e arriscada quanto o sentido que a ela arbitrariamente atribuímos. Quero crer que Baudrillard apostava na reversibilidade do sentido como capacidade ainda possível (embora para ele improvável) de escolher nossas próprias escolhas numa existência desde sempre desprovida de sentido.
II. O objeto
[…] nos anos 60, a passagem do primado da produção ao do consumo trouxe ao primeiro plano os objetos. […] E, sobretudo, o fato de que eles remetiam a um mundo menos real do que poderia fazer crer a aparente onipotência do consumo e do lucro. […] A troca, da qual ele é o suporte, permanece inesgotável. Ele é, certamente, mediador, mas, ao mesmo tempo, como ele é imediato, imanente, ele quebra essa mediação. Ele está sobre duas vertentes: preenche e decepciona simultaneamente. […] Em um primeiro momento, nos comunicamos por meio dos objetos, depois a proliferação bloqueia essa comunicação. – Baudrillard, Senhas (op. cit., p. 9-12).
“Objeto” não significa apenas materialidade, mas antes uma ideia de materialidade. Para os gregos, que acreditavam numa ordem por detrás da desordem, o objeto era “contemplativo”, portanto não dissociado do âmbito teórico, reflexivo – seja como acesso, seja como bloqueio à essência das coisas. Só que em dado momento, como Heidegger demonstrou amplamente, o objeto passou a indicar uma transformação do mundo, como resultado de uma intenção emancipatória de conquistar um modo superior de existência. Devemos levar em conta esta segunda ideia de materialidade como possibilidade técnica, isto é, como passagem, precipitação e realização de um pensamento no plano concreto. Mas ao passo que Heidegger adotara certa postura nostálgica para examinar os efeitos perversos deste paradigma tecnológico, Baudrillard abordou a temática de outra maneira: não a partir de uma perspectiva otimista, mas irônica.
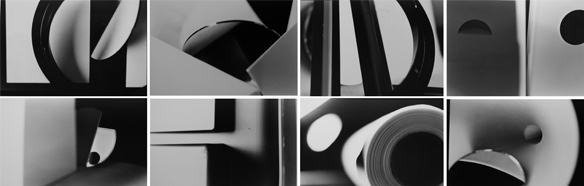
Seu esforço foi o de evidenciar a reversibilidade contida na ideia de que o objeto tecnológico, além de ser mundo-transformado, transforma o sujeito que supõe dominá-lo: acreditamos transformar o mundo pela técnica, de modo que o aspecto “real” do mundo passa a depender de uma espécie de jogo técnico invisível porquanto já realizado. O objeto que outrora servia de mediação passa então a escapar da angústia, da morte e, enfim, de tudo aquilo que ele mediava. Sua promessa é a de que tudo poderia ser fabricado, transformado, registrado e dominado de forma objetiva. A nostalgia do objeto perdido torna-se, assim, a retirada “objetiva” do próprio homem, que não mais se distinguiria do objeto – existindo sem existir, estando presente de maneira ausente.
A reversibilidade do objeto, pois, reside na inversão da materialidade em virtualidade: o delírio de transformar o mundo geraria um tipo de desaparecimento fantasmático de quem/do que exatamente transforma/é transformado. Não obstante, Baudrillard foi contundente ao afirmar que o design perfeito reside na própria desaparição do design: quando temos a impressão de que tudo já estava ali, numa mescla melodramática de acontecimentos que não sabemos se realmente ocorreram, sem o menor indício de credibilidade etc. Por conseguinte, com o design fora de vista, o indivíduo não conseguiria mais perceber a si mesmo como sujeito existente – e esta auto-invisibilidade seria, para Baudrillard, o sonho último da atuação profissional dos designers.
III. O valor
[…] se o valor de mercado é passível de ser apreendido, o valor de signo, ao contrário, é fugitivo e movente – em dado momento, ele se esgota e se dispersa na valorização que lhe é dada. Se tudo se alterna com base em uma convenção, estamos ainda no mundo do valor ou em sua simulação? […] Compartilhar uma regra é algo bem diferente de tomar como referencial um equivalente geral comum: é preciso estar totalmente implicado para poder entrar no jogo, o que cria entre os parceiros um tipo de relação bem mais dramática que a troca de mercado. Nessa relação, os indivíduos não são mais seres abstratos que podem ser indiferentemente substituídos uns pelos outros. – Baudrillard, Senhas (op. cit., p. 16).
Negociamos algo o tempo todo: ideias, palavras, expectativas e até parâmetros valorativos. Sobretudo quando tentamos encontrar razões, causas e finalidades para as coisas, precisamos adotar um referencial, um equivalente, um comparativo. Só que o valor em si mesmo, que serve a essa mediação, nunca é mensurável em termos de equivalência. Ao contrário, é algo como uma dívida genealógica – que segundo Nietzsche fundamenta conceitos morais como culpa e dever –, precisamente como a “parte maldita” de que falava Bataille, que não será jamais resolvida, quitada ou remida. É com base neste elemento insondável – a arbitrariedade de valores morais que dispensa qualquer necessidade de validá-los – que Baudrillard argumentava que tanto Marx quanto Adam Smith partiam, ainda que de maneira divergente, de determinadas “necessidades inatas” (trabalho ou concorrência) para justificarem essencialmente a noção de mais-valia.

Não por acaso Baudrillard lança mão de metáforas sobrenaturais para referir-se ao valor: uma vez “revelado” o truque, uma vez exposto o verdadeiro segredo (de que não há segredo), o encantamento resiste à desmistificação. Não se trata apenas de trabalho humano magicamente transformado em mercadoria, mas antes do trabalho transformado magicamente em necessidade. A fantasia está na objetivação da crença ideológica, anterior ao ritual do qual participamos independentemente de quão místico ele seja: “gasolina Petrobrás, o sonho de consumo de todo carro”. Tomemos o casamento pós-moderno: o culto ecumênico, o distanciamento à tradição, as manobras inovadoras (da escolha do traje à trilha de rock), o riso descrente e esclarecido diante do padre etc., longe de enfraquecer o ritual, reforça-o. Um casamento pode ser tão fantasioso quanto a intenção de desmistificá-lo – o encantamento persiste não tanto pela prática do ritual, mas no próprio saber a esse respeito, na ilusão segundo a qual ninguém mais por aqui é ingênuo.
É neste viés que a forma e o sentido da mais-valia são, para Baudrillard, os mesmos do valor de signo (o de ser o que os demais signos não são), pois operam fora da mera decodificação por equivalência (mercadoria-trabalho, demanda-necessidade etc.). A pergunta “estamos ainda no mundo do valor ou em sua simulação?” pauta-se na possibilidade de a simulação possuir, por si só, um valor de encantamento: a constante evocação midiática em termos de violência, de corrupção, de catástrofe etc., longe de exaltar alguma solidariedade coletiva, nada mais faz do que reforçar nossa impotência e nos mergulhar no pânico e no remorso. Como uma dívida irremissível, não se trata de um “além” do bem e do mal, do verdadeiro e do falso, mas talvez de um “aquém”, um lugar homogêneo que simula vagamente alguma ordenação sem valor de diferença ou equivalência, mas onde cada indivíduo adquire uma posição singular diante da ausência de um referencial geral – lá onde o valor do valor reverte-se na impossibilidade patente de pensá-lo.
IV. A troca simbólica
Se o valor tem sempre um sentido unidirecional, se ele passa de um ponto a outro segundo um sistema de equivalências, na troca simbólica há reversibilidade de termos. […] Circunscrevemos domínios em que certos tipos de racionalidades, econômica, anatômica, sexual, parecem agrupar-se, mas a forma fundamental, a forma radical, continua sendo a do desafio, do lance mais alto, a do potlatch – ou seja, da negação do valor. Do sacrifício do valor. Estaríamos assim continuando a viver de um modo sacrificial, sem querer assumir isso. Ou melhor, sem poder assumi-lo, porque sem os rituais, sem os mitos, não temos mais os meios para tal. – Baudrillard, Senhas (op. cit., p. 17-21).
Potlatch era um ritual indígena que consiste basicamente em desperdício e doação de riquezas. O que despertou atenção em Baudrillard foi a reversibilidade de valores em torno da qual este tipo de ritual se dava: havia algo de inadequado ao contexto imediato (doação pura e simples de bens), mas que, pela recorrência formal, ultrapassava tal inadequação ao indicar um tipo de ambiguidade valorativa anterior. Trocando em miúdos: por que continuamos a comprar automóveis se isso nos submete a outros gastos, como estacionamento, combustível e impostos? Sem dúvida por uma questão funcional (locomoção, que logo se torna duvidosa na hora do rush), mas especialmente por uma questão simbólica: alguma segurança está “garantida” no interior do carro, mesmo que seu motorista esteja paralisado no trânsito, desempregado, despejado de casa etc.

A troca simbólica é este lugar inadequado, em que todas as modalidades de valor parecem regressar, mas que permanece efetivo e decisivo nos processos sociais. De modo esquemático, podemos pensar da seguinte forma: de um lado, os códigos fundamentais de uma cultura (língua, técnica, valores, hierarquias etc.) funcionam como coordenadas convencionais de compreensão do mundo e de si perante o mundo; de outro, teorias científicas e interpretações filosóficas levantam princípios gerais que justifiquem aquelas coordenadas, isto é, por que razão é esta a ordem estabelecida e não outra. Mas entre estes dois polos prevalece um domínio que, apesar de desempenhar um papel de mediação, não é menos fundamental: lá onde os códigos perdem sua “coerência” inicial e as trocas cessam de se deixar regular passivamente por eles.
É nessa ordem intermediária que se assentam os códigos da linguagem, da percepção e da prática, bem como as teorias construídas e as interpretações que estas requerem. Quer dizer, entre o olhar já codificado e o conhecimento reflexivo, há uma região “mediana” que se auto-organiza a cada instante, composta de imagens que se diferenciam sucessivamente e se espelham mutuamente, e isso na recorrência mesma de um mundo que se repete de maneira sempre diferente. Tomemos por exemplo a questão da memória: as lembranças se organizam de modo diferente cada vez que são propriamente lembradas, de tal forma que há uma constante reversibilidade do fim daquilo que já aconteceu e na ausência do que já esteve presente. Mesmo no caso de alguma história registrada na fotografia, no texto, no filme, o aspecto “irreversível” não se deixa fixar: há um “modo de ser” que se altera a cada retomada de um mesmo registro.
Deste modo, Baudrillard elege a troca simbólica como uma instância anterior às palavras, aos olhares e aos gestos, os quais são incumbidos de traduzi-la com maior ou menor exatidão e êxito (de acordo com os códigos preestabelecidos). A troca simbólica, portanto, se não nega diretamente valores prévios, ao menos os suspende provisoriamente em proveito de uma relação menos duvidosa e mais arcaica, mais visceral, sempre mais “verdadeira” que as teorias que lhes tentam dar uma forma explícita, uma explicação exaustiva ou um fundamento filosófico. Assim, em toda cultura e existência socialmente partilhada, entre o uso do que se poderia chamar de “códigos ordenadores” e as reflexões sobre a ordem, há uma experiência simbólica que garante a reversibilidade da ordem, a multiplicidade de seus modos de ordenar e dos nossos modos de ser.
V. A sedução
A sedução é um desafio, uma forma que tende sempre a perturbar as pessoas no que se refere à sua identidade. […] O crime original é a sedução. E nossas tentativas de positivar o mundo, dar-lhe um sentido unilateral, bem como toda a imensa organização da produção, têm, sem dúvida, a finalidade de eliminar, de abolir esse território indiscutivelmente perigoso, maléfico, da sedução. Pois esse munda das formas – sedução, desafio, reversibilidade – é o mais poderoso. O outro, o mundo da produção, tem o poder, mas a potência este do lado da sedução. […] E todos os tipo de produção lhe estão, talvez, subordinados. – Baudrillard, Senhas (op. cit., p. 24-27).

Em seu O erotismo, Bataille discorreu longamente sobre o fenômeno social de transgredir as interdições impostas milenariamente por certa “ordem desordenadora”, dando ao erotismo e à violência uma dimensão iminentemente sagrada. Por sua vez, Baudrillard esforçou-se para outorgar essa dimensão sagrada ao domínio da sedução como peça-chave da troca simbólica. Inicialmente, pois, Baudrillard define “sedução” como lógica que desvia os valores e finalidades, fazendo então oposição à produção. A acepção original da “produção” como pro-ducere não é a da fabricação material, mas a de tornar visível, de fazer aparecer e comparecer. Produzir é tornar visível pela força material aquilo que pertence a outra ordem – a ordem do secreto e da sedução.
A dinâmica do “segredo” é fundamental para a sedução: ocultar alguma coisa da ordem do visível implica suspender e contradizer identidades definidas (como masculino e feminino, verdadeiro e falso, sujeito e objeto). Esconder é manter em estado de potência a possibilidade da fruição, do prazer, do olhar, da troca, da produção. Não se trata de liberar ou desperdiçar, nem de conter ou acumular, trata-se de colocar-se em jogo, em movimento. Talvez seja no espaço do corpo onde a sedução primeiramente aparece: no sexo, o corpo faz alusão a si mesmo na medida em que se ausenta parcialmente; na dança, ele escapa à sua própria inércia; no esporte, antes de produzir-se como performance eficiente, o corpo deve diluir-se em fluxo, movimento, gesto.
Mais do que no corpo, contudo, é nas aparências que reside a sedução, nunca nos conteúdos e significados. Por isso não faz sentido, para Baudrillard, expressões proclamadas à exaustão no contexto contracultural em que ele se encontrava, tais como “o poder seduz as massas”, “a sedução da mídia”, “os grandes sedutores detêm o poder” etc. Porque tais discursos confinam a sedução e a aparência na esfera da frivolidade, da manipulação, da enganação. O ponto de partida de Baudrillard, ao contrário, é o mesmo que o de Nietzsche: a aparência como horizonte último do real. Logo, se o terreno da sedução é o mais perigoso, é o “crime original”, não se trata de uma desvaloração moral, mas sim da potência das aparências, do corpo, das representações e, enfim, da existência sem causa ou finalidade e que não procura qualquer forma de salvação.
VI. O obsceno
[…] Régis Debray fez, a partir deste ponto de vista, uma interessante crítica da sociedade do espetáculo: segundo ele, nós não estamos, em absoluto, em uma sociedade que nos afastaria das coisas, em que seríamos alienados devido à nossa separação delas… Nossa maldição é, ao contrário, a de estarmos superaproximados delas, de tudo ser imediatamente existente como realidade concreta, tanto nós como elas. E este mundo excessivamente real é obsceno. […] A palavra promiscuidade diz a mesma coisa: tudo aí está de forma imediata, sem distância, sem encanto. E sem um verdadeiro prazer. – Baudrillard, Senhas (op. cit., p. 30-31).

A sedução, como vimos, é a dinâmica-chave da troca simbólica que, por sua vez, é o que organiza o real (ou seja, é o que nos faz perceber o real enquanto tal). Logo, um dos principais aspectos do real não é sua concretude ou visibilidade total, mas justamente a reversibilidade do modo como o vemos e o re-conhecemos. O obsceno está totalmente fora da ordem simbólica porque se mostra irreversivelmente já conhecido. Um corpo nu pode ou não ser obsceno; depende se ainda há jogo, se ainda há segredo, se ainda não está totalmente visível. Em contrapartida, um corpo descarnado, esfolado, esquartejado tende a ser obsceno, não porque parece ser “menos real”, mas justamente por ser real em demasia. Não é que algo foi meramente acrescentado ou retocado no real, mas sim diretamente reposto, substituído, sobreposto. O curioso é isso gera um efeito de “transparência” tal que, mesmo nos anúncios mais espetaculares, nas notícias mais catastróficas, nas paisagens mais paradisíacas e nos sorrisos mais lascivos, não resta espaço para estranhamento algum – tudo está muito bem encaixado, explicado, harmoniosamente em ordem.
O exemplo a que Baudrillard recorre com mais frequência não é tanto a pornografia, mas os reality-shows. A promessa de “realismo” deste tipo de programa não está na situação de “pessoas reais” vivendo “sem roteiro”, como se não houvesse nenhum fingimento e dramatização. Ao contrário, o realismo consiste em todos saberem que nada ali é real – ninguém duvida da edição, dos roteiristas, das situações programadas –, e no entanto funciona “melhor” que a realidade. Tudo parece “transparente”, especialmente o choro obviamente forçado em frente às câmeras. O obsceno não é a sinceridade ou falta de sinceridade dos participantes, mas a conivência dos expectadores que, em última instância, dariam tudo para estar ali. Afinal, o fato de que “é só um jogo” é garantia de que nada está de fato em jogo; tudo está em perfeita ordem.
No caso da pornografia, o obsceno não é a representação fantasiosa do ato sexual (Baudrillard nunca condenou este tipo de produção cultural). O obsceno é a retirada do sexo em si, enquanto ritual simbólico, em proveito de certa homogeneidade do gozo: o “realismo” segundo o qual toda vagina é igual e o próprio ritual do sexo é secundário ou mesmo descartável. A sedução (que conjuga o ritual) sai de cena e ficamos só com o que “interessa”: a necessidade de gozar (cada um pode fazê-lo por conta própria), abrindo espaço àquilo que Baudrillard chama de “cultura da ejaculação precoce”. É neste registro do obsceno, marcado por um tipo ideal apático, blasé, cuja transgressão se automatiza em norma, que o consumo torna obsoleto tudo aquilo que não seja a “última versão”. Para além do real, a perfeição assim assume a forma de indiferença pura.
VII. A transparência do mal
O mal funciona porque a energia vem dele. E combatê-lo – o que é necessário – leva simultaneamente a reativá-lo. […] Este título – “a transparência do mal” – não é de todo pertinente… Seria mais correto falar em uma “trans-aparição” do Mal que, por mais que se faça, “transparece” ou transpira através de tudo que tende a conjurá-lo. Por outro lado, essa mesma transparência é que seria o Mal: a perda de todo segredo. Assim como no “crime perfeito”, é a própria perfeição que é criminosa. – Baudrillard, Senhas (op. cit., p. 39).

Baudrillard nunca estabeleceu um ponto fixo a partir do qual se possa determinar o que é um bem ou um mal – e isso talvez seja o que, no fundo, incomoda seus críticos. No entanto, nada o impedia de lançar mão de dualismos como a ideia de “transparência” em oposição à noção de segredo, de modo que tanto o julgamento de bem quanto o de mal dependam da transparência (clareza, ordem, objetividade) daquilo que se julga. Partindo deste pressuposto, podemos pensar num fato bastante claro: o dinheiro investido mundialmente no armamento militar, por exemplo, poderia reduzir drasticamente a miséria do mundo caso fosse “mais bem” empregado. Mas também podemos questionar: em que instância abolir a miséria do mundo seria mais vantajoso para aqueles (e apenas aqueles) que investem na produção bélica? O fato obsceno de não haver instância alguma é a transparência do que se poderia julgar como bem ou como mal.
Acontece que qualquer julgamento, por depender de algum critério valorativo, nunca é em si transparente o suficiente. Por exemplo, o discurso de fazer “justiça com as próprias mãos”, recorrentes em certas configurações contemporâneas, poderia ser facilmente comparado à lenda de Hobin Wood: alguém poderia argumentar que, num país como o Brasil, onde prevalece um nítido mal-estar de impunidade e corrupção, a recusa elementar de Robin Hood a servir a um poder instituído pode parecer minimamente implícita nas recentes narrativas sobre ações populares foras-da-lei. No entanto, se atentarmos a certos detalhes de nosso contexto – como a atuação anônima de pessoas que, à luz do dia, só querem continuar tendo a vida que sempre tiveram como “cidadãos-de-bem” –, o folclore britânico torna-se um tanto anacrônico.
Anacronia esta, não obstante, que talvez se torne mais “transparente” na relação de Batman com seu jovem parceiro Robin: fazendo alusão ao fora-da-lei de Sherwood, o menino Robin é uma figura totalmente ingênua em comparação a seu mentor Batman, cujo lema é “bater antes de perguntar”. Quer dizer, se no imaginário de Robin Hood temos uma concreta divisão entre os opressores e os oprimidos, no cenário de Gotham City tal fronteira já se encontra bastante diluída. Em sua análise do filme Batman: The Dark Knight, Žižek descreve a lei perversa que justifica este novo senso de justiça-fora-da-lei como um idealismo que se coloca como antítese de si próprio, uma ideologia disfarçada de anti-ideologia, a destituição de um ideal de “ordem” para fazer valer este mesmo ideal. Em outras palavras, não se trata de um filtro ideológico distorcendo a realidade, trata-se – o que dá no mesmo (e esta é a questão) – da proliferação de um discurso paranoico que propõe “concertar” a realidade em proveito de uma “causa nobre”.

Não é de hoje que existem justiceiros fora-da-lei, mas conceber tal atividade como “dever cidadão” me parece, sim, recente (deixando de lado as distopias norte-americanas de meados do século XX). O anti-herói não é mais alguém que não se adequa ao discurso vigente, mas um indivíduo comum e perfeitamente “ajustado” cujas ações estariam justificadas, à priori, pela submissão a um ideal social que supostamente o isentaria de qualquer responsabilidade. É algo análogo à qualidade do “rouba, mas faz” que certos representantes já não escondem de seus eleitores, isto é, um estratagema de confessar o crime para melhor ocultá-lo. No fundo, trata-se de uma lei não escrita, e por isso mais efetiva e impositiva, que nos divide entre “malandro ou mané”, mas de um modo tão ardiloso que para ser malandro é preciso encontrar novas vítimas, novos manés, cujo lugar todo malandro já ocupou e/ou está sempre apto a ocupar.
É precisamente assim que eu entendo a “transparência do mal” a que Baudrillard se refere. Parece-me invariavelmente constrangedor, por exemplo, assistir algum(a) jornalista tentando analisar, pela mídia de massa, as recentes formas de “manifestação” popular. Não tanto porque suas asserções são desmentidas por sua própria posição de enunciação, pela postura forçadamente engajada que mal consegue disfarçar a clara indiferença oriunda da situação lamentável em que se encontra (disputa de ibope). O constrangedor é que, dada a “transparência” da narrativa fantástica, não há como acreditar no que está sendo narrado senão como piada – de muito mal gosto, sem dúvida, porque é contada para ser levada a sério. É como uma reportagem que li faz tempo, não lembro onde, sobre um deputado, juiz ou coisa do gênero que, ao se aposentar, escutou a filha o chamando de “fracassado” por ter sido o único entre seus colegas que não aproveitou o cargo público para encher o bolso de dinheiro. A revolta da filha pela escolha do pai, de seguir obedientemente as leis ao invés de infringi-las em proveito de interesses privados, mostra que ela entende a postura dele como fraqueza moral ou mesmo covardia. Ele não encontrou palavras para responder à filha. Talvez ele continue sem saber onde procurá-las.
VIII. O virtual
Do meu ponto de vista, como já disse, fazer acontecer um mundo real é já produzi-lo, e o real jamais foi outra coisa senão uma forma de simulação. […] O virtual não é, então, mais que uma hipérbole dessa tendência a passar do simbólico para o real – que é o seu grau zero. Neste sentido, o virtual coincide com a noção de hiper-realidade. A realidade virtual, a que seria perfeitamente homogeneizada, colocada em números, “operacionalizada”, substitui a outra porque ela é perfeita, controlável e não contraditória. Por conseguinte, como ela é mais “acabada”, ela é mais real do que o que construímos como simulacro. […] o virtual é o que está no lugar do real, é mesmo sua solução final na medida em que efetiva o mundo em sua realidade definitiva e, ao mesmo tempo, assinala sua dissolução. – Baudrillard, Senhas (op. cit., p. 41-42).
O virtual seria o último estágio da transparência simulada do mundo. Seria a passagem a uma realidade definitivamente obscena, uma forma de perfeição operacional do mundo que anularia qualquer referencial anterior. Embora nunca tenha passado do nível especulativo, o virtual é um advento arcaico que se manifesta em delírios tecnológicos e midiáticos, mas também religiosos e seculares, que prometem fazer o homem escapar da angústia, da realidade dura e injusta da vida, do envelhecimento e da morte. Pela “virtualidade” faz-se a economia de tudo isso, de modo a construir um equivalente que possa não tanto aprimorar o real, mas propriamente substitui-lo.

Pois bem, é quase inevitável questionarmos: se o real depende de algum encadeamento simbólico para ser entendido como tal, existe alguma coisa puramente real? Essa pergunta é pertinente porque nos força a retomar o fato etimológico de que o conceito de “virtual” não se opõe ao de “real”, e sim ao de atual, ao de já realizado. Neste sentido, o virtual diz respeito à multiplicidade potencial pré-ontológica em contraposição a uma realidade que ontologicamente já está totalmente realizada. Para Baudrillard, no entanto, esta noção de virtual remete filosoficamente ao transcendental, como uma espécie de rede conceitual a priori que estrutura a realidade concreta. Só que o plano do real, para Baudrillard, compreende simultaneamente o virtual e sua atualização, sem que possa haver um limite assinalável entre os dois. A atualização do virtual seria o aspecto reversível do real, aquilo que o torna singular e simbolicamente reconhecível como tal.
Logo, ao falar do virtual como aquilo que toma o lugar do real, Baudrillard quer referir-se a um mundo não mais atualizável, não mais reversível, porque já é dado como “acabado”, definitivo, homogêneo e transparente. É aquilo que atualiza o real definitivamente, abolindo-o enquanto tal. Não nos deixemos enganar quanto ao aparente esoterismo do virtual: não há mistério algum, segredo algum, que sobreviva a certezas reais do virtual. Convém aqui sublinhar que Baudrillard permanece alinhado à ontologia nietzschiana – se é que é possível falar em ontologia quando se assume a inexistência do ser e de qualquer outro fundamento –, isto é, à ideia de que não há realidade senão como aparência a que chamamos de realidade. É neste sentido que o real jamais foi outra coisa senão uma forma de simulação, de ficção, de mentira.
Só que a partir do momento em que este real é desmistificado, dissecado, desmentido em sua aparência sempre provisória, corremos o risco de achar que finalmente temos domínio total sobre ele. E ao tentarmos separar a verdade da mentira, conforme a exatidão escancarada pelo obsceno, abolimos qualquer ambiguidade sedutora: não resta nem verdade, nem mentira, nem realidade, nem falso, nem verdadeiro, nem razão, nem sentido, nem consciência, nem causalidade. Ao mesmo tempo, tudo se torna maravilhosamente real, ainda que como falsidade esclarecida. Entre espetáculo e banalidade, fingimento e espontaneidade, nenhuma distinção. O virtual, para além de uma pretensa recuperação das essências por baixo das aparências, é a sensação de que tudo se dá a ver. E quando tudo se torna visível, percebemos que não há mais nada a ser visto.
IX. O trágico
O destino é sempre o princípio de reversibilidade em ato. […] é essa troca simbólica entre nós e o mundo que nos pensa e que nós pensamos, onde ocorre esse conflito e esse conluio, esse abalroamento e essa cumplicidade das coisas entre si. E aí está o crime, e a dimensão trágica. A punição é inescapável: haverá uma reversibilidade que fará com que alguma coisa seja, neste mesmo lugar, vingada. Canetti o disse: “A vingança, não é preciso nos darmos ao trabalho de deseja-la; ela se fará, ela se faz automaticamente, pela reversibilidade das coisas.” É esta a forma do destino. – Baudrillard, Senhas (op. cit., p. 66-67).
Optei por tratar das últimas “senhas” – o aleatório, o caos, o fim, o crime perfeito, o destino, a troca impossível, a dualidade, o pensamento e a palavra final – de forma conjunta porque, a meu ver, elas se desdobram diretamente dos tópicos anteriores em direção a uma senha mais ampla e incisiva, embora certamente questionável, que a meu ver aponta para o aspecto trágico da existência. Comecemos pelo “aleatório”, isto é, o fato de que nada se reduz a nenhum princípio. Não existe um Baudrillard, muito menos uma obra baudrillardiana; existe somente este autor aqui, que por acaso se chama Baudrillard, e eventualmente um texto que supostamente foi escrito por ele. A singularidade do real é garantida por este acaso, pela aleatoriedade que, sem causa ou finalidade, nos coloca aqui, existindo para cedo ou tarde não mais. Isso é o que há de verificável, embora não por muito tempo. As coisas se diferenciam ao olhar, novamente, por puro acaso.
A combinação de acasos não indica necessidade alguma, princípio algum, razão ou finalidade para as coisas acontecerem, mas a própria linguagem (ou sua ausência) do real: o “caos”. Este caos refuta qualquer fundamento exterior ao próprio caos, de modo que toda ordenação que tente combatê-lo deriva em última instância do acaso, legitimando-se apenas por si mesma e, portanto, de forma totalmente arbitrária. O caos é fatal e ao mesmo tempo insignificante em sua “inocência”. Porque não é ele a fonte de todos os males, como querem tantas fábulas e narrativas salvacionistas, e sim nosso fracasso em tentar ordená-lo. Não satisfeitos em conseguir organizar sentidos e finalidades ao mundo e a nós mesmos, buscamos ainda nos “tranquilizar” pela crença de que, por trás da desordem e da arbitrariedade da existência, talvez exista alguma razão maior que nos redima do retorno certo, ainda que indeterminável, à condição de não existência.

Com isso chegamos à senha do “fim”, que é indício de irreversibilidade. Baudrillard trata da questão do fim em termos de ilusão, não somente como ilusão de término, mas também como ilusão de finalidade, de ordem que justifique o que foi dado ao acaso. O fim da vida, por exemplo, é somente o fim para quem a vive, o fim de uma consciência. A vida continua ali, viva entre nascimentos e mortes, sem um fim verificável. Do mesmo modo, a finalidade e a razão-de-ser das coisas existem apenas na consciência que as conhece e não propriamente nas coisas. Em última análise, pois, o fim que a consciência quer ver é o fim de si mesma, o qual nunca chega (ou, quando chega, já não há consciência). Por isso o fim é uma ilusão, porque ele nunca é constatável senão como aquilo que ainda não chegou. Há então certa reversibilidade igualmente ilusória que o fim expressa: ou não atingiremos nunca o fim, ou já o ultrapassamos.
É neste sentido que, para Baudrillard, o problema proposto pela história não é o de que ela teria tido fim, como queria Fukuyama; é, ao contrário, de que ela nunca terá fim e, por conseguinte, nunca possuiu finalidade alguma. Em contrapartida, se não podemos situar um fim, tentamos a todo instante marcar um começo, o que não anula o descompasso trágico entre uma consciência que pensa e vive um fim que jamais sequer começou a não ser na própria consciência. A única coisa que anularia tal descompasso seria a imposição de um fim claro e irreversível ao real – aquilo que Baudrillard chama de “crime perfeito”. Não é que haja algum crime com um autor presumido e uma vítima determinada; é que a perfeição mesma é o crime: ao tornar coisas idênticas ao sentido que a elas atribuímos, a perfeição substitui a ilusão do fim pela própria realização do fim.
Esta realização do fim remete a uma noção mística de destinação perfeita (aquilo que possui uma finalidade clara), noção esta a que Baudrillard contrapõe à de “destino”, isto é, aquilo que não se pode explicar por suas causas, preservando-se em segredo. O evento fatal a que o destino nunca diretamente se refere funciona como álibi ancestral da relação do homem com o mundo: em seu jogo “secreto”, a ideia de destino nunca deixa esgotar o sentido, ou a falta de sentido, de um ou outro acontecimento. Por isso Baudrillard define o destino como um “princípio de reversibilidade em ato”, princípio não do mundo em si, mas da consciência humana que, para percebê-lo, lança mão da ilusão segundo a qual as coisas já tinham desde sempre uma “vocação” de estarem ali onde estão. Em outros termos, destino não passa de algo que, em dado momento, é de uma tal singularidade que não é trocável por nenhum tipo de explicação ou significado.
Logo, o destino traz consigo a senha da “troca impossível”, dado que ele não pode ser trocado por nada. Como vimos anteriormente, é preciso que haja um valor, um referencial, um equivalente para que possamos trocar as coisas – as mercadorias, os significados, as palavras, os indivíduos etc. Por outro lado, a existência singular das coisas e pessoas e o “existir” em geral não são intercambiáveis, pois não há um equivalente em lugar algum. Do mesmo modo, é estratégia do próprio sistema financeiro, linguístico, cultural etc. manter uma troca que não se alicerça em nada (ou seja, naquela parte insondável que tornam as trocas possíveis). Eis o nível da troca impossível: em algum ponto, o próprio ato da troca não funciona mais. Quando cessa a conciliação de alguma coisa com o seu valor, com o referencial que lhe dá sentido, ou estamos no virtual (qualquer coisa vale qualquer coisa) ou a troca simbólica entra em cena, retomando aquela reversibilidade secreta que mantém o acaso destinado a continuar invariavelmente no acaso mesmo.
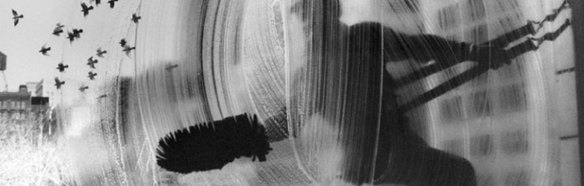
Não é difícil notar, a esta altura, o fascínio de Baudrillard pela senha da “dualidade”. Não se trata da pretensa dicotomização das coisas, como se tudo fosse facilmente encaixável no preto ou no branco, como se não houvesse nuances sutis e infinitas transições. Trata-se do esforço de situar o pensamento sempre em ambiguidade para consigo mesmo, descartando assim qualquer referência a uma unidade ou permanência. Entre o bem e o mal, por exemplo, Baudrillard prefere manter o antagonismo como código da ambivalência, isto é, como aquilo que reorganiza a teia conceitual que sustenta uma dualidade – não para desfazê-la, mas para mantê-la reversível.
Deste modo, Baudrillard reivindica, em sua última senha, um “pensamento” ambíguo, incerto, que permaneça como troca impossível em relação ao mundo pensado. Fazer da incerteza uma regra do jogo, o que significa pôr em jogo até mesmo seu próprio domínio: abandonar a identificação e a significação para integrar-se ao fluxo das aparências, da desidentificação, não tendo por referencial nada além da sedução. Na leitura que particularmente faço dos textos de Baudrillard, contudo, não vejo um pensamento pendendo estritamente a este domínio da incerteza. Ao contrário, há um raciocínio claramente organizado a partir de um ponto de vista, de um interesse, de uma perspectiva que faz os argumentos sofrerem pequenas ou grandes torções a fim de responderem a suas próprias questões; enfim, é um pensamento interessado em selecionar apenas as contradições que possam ser postas a serviço de uma não contradição.
Para mim, um pensamento é radical na medida em que ele não pretende se comprovar, verificar-se em uma realidade qualquer. O que não significa que ele negue a própria existência, que seja indiferente a seu impacto; mas sim que ele considere essencial manter-se como elemento de um jogo cuja regra ele conhece. O único ponto fixo é o inexprimível, o fato de que o mundo continuará existindo, e todo o trabalho do pensamento tem por finalidade preservá-lo. – Baudrillard, Senhas (op. cit., p. 84).
Esta é, por fim, a senha da “palavra final”: construir um pensamento que afirma o primado da reversibilidade sobre a homogeneidade, a identidade e a finalidade. Deste modo, Baudrillard insiste em mostrar que é pela sedução que as coisas nunca são idênticas a si mesmas e que, não obstante, afirmam sua singularidade. O cerne de sua proposta filosófica, portanto, me parece tão simples quanto absurda: somente a reversibilidade não contradiz a si mesma, ao contrário dos pretensos significados sustentados historicamente. É absurdo porque seu objetivo não é fundamentar a reversibilidade, justificá-la ou legitimá-la, mas simplesmente estabelecer conexões ou ressonâncias de um domínio a outro a partir da questão central que, a meu ver, orienta seu pensamento: existir sem prestar contas a uma finalidade preestabelecida, mas como uma escolha que se abre ao acaso, aos encontros fortuitos, à imprevisibilidade da vida e à irracionalidade do mundo. Escolher inventar o real para que ele não seja outra coisa que não ele mesmo.
Links complementares:
– AntiCast #59: Baudrillard e o preço do amanhã.
– Livro “Senhas” de Jean Baudrillard (Rio de Janeiro: Difel, 2007).
– Livro “Introdução ao pensamento de Jean Baudrillard” de Jorge Barcellos.
– Livro “Introducing Jean Baudrillard” (em inglês), de Chris Horrocks e Zoran Jevtic.
– Livro “Selected writings of Jean Baudrillard” (em inglês), organizado por Mark Poster.
– Entrevista “Jean Baudrillard, o apocalíptico tranquilo”, concedida a Juremir Machado da Silva.





Comentários
Os comentários estão encerrados.