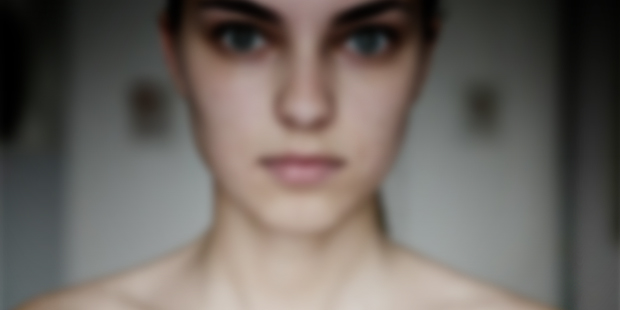
Se esta rua fosse minha não haveria tempo para ser breve
“I do not mind lying, but I hate inaccuracy.” – Samuel Butler
Desde quando voltei a andar pelas ruas de São Paulo, parece que todo o intervalo que se formou a partir de quando eu deixei de morar aqui já deixou de ser propriamente um intervalo. Por mais que eu tenha esquecido muita coisa, e por mais que muita coisa tenha mudado, é como se eu nunca tivesse saído daqui. Confundo as datas e os lugares de uma ou outra lembrança cuja singularidade, no entanto, lembro-me perfeitamente. Minha memória não cessa de equivocar-se, tento imaginar o que aconteceu naquela praça ou padaria, como se as ruas fossem incapazes de evocar exatamente aquilo que eu vejo nelas. Mas o que afinal eu vejo?
Digamos que há muitas formas de olhar para as ruas. Talvez a mais recorrente seja caminhando nelas como se aquilo que vemos e experimentamos existisse concretamente, independente da nossa vontade. Essa é uma maneira realista de caminhar na rua, isto é, pela crença de que o que acontece ali é de fato real. Mas alguém poderia dizer que a rua em si mesma não existe, porque não há como provar sua existência sem um critério ou um observador externo a ela. Esse é um caminho idealista de caminhar na rua, na medida em que ela precisaria de um suporte ideal, metafísico e transcendente para justificar-se como “rua”.

Outra forma de entender nossa relação com a paisagem urbana é dizer que ela existe, e nada existe além dela, só que nunca conseguimos percebê-la exatamente como ela é. Haveria então algum tipo de mediação (como uma imagem, uma “aparência”, um filtro) que nos impede de enxergar essa rua em si mesma e que, ao mesmo tempo, seria o que nos dá acesso a ela. Tratar-se-ia basicamente de uma rua “fenomenológica”.
O problema é quando ainda pressupomos que existe um sujeito observador e uma coisa observada, ambos separados por uma “aparência”, ou seja, um elemento abstrato que, em si mesmo, não é real. Eu penso que essa aparência é a única coisa real, de modo que o eu-observador e a rua observada fazem parte de uma mesma aparência. É por isso, a propósito, que design faz todo sentido: porque tudo o que existe são aparências.
Suponha que você acabou de fazer um desenho e, por acidente, você derruba um vidro de nanquim nesse desenho. Quanto mais que você tenta limpar o nanquim, mais você apaga o desenho, de modo que no final sobra apenas um borrão. Esse borrão serve para entendermos que, se a gente tenta “limpar” as aparências das coisas, não sobra nada, tudo é perdido definitivamente. E se é o caso de não nos habituarmos com o “borrão do mundo”, é porque ainda temos essa mania de buscar por algo além da aparência, tipo uma “essência” ou uma matéria bruta, quando na verdade a única coisa que temos é um borrão em potencial.

Quer dizer que o borrão é uma ilusão? As ruas por onde ando não se opõem à minha memória nem à minha imaginação na medida em que ainda vejo a mesma rua. Agora, se o que eu vejo é um borrão, é porque já desisti de olhar e coloquei uma ilusão no lugar da rua. A memória e a imaginação são formas de olhar para as coisas, enquanto a ilusão é a completa negação do olhar.
Curioso é que essa negação ocorre por duplicação do que vemos, como se aquilo que vemos não fosse exatamente o que queremos ver. Quando você encontra o “amor da sua vida”, quando você se sente castigado ao sofrer um acidente, quando você pensa que está sendo recompensado etc. há sempre um elemento acrescentado ou “retocado” que colocamos ali e fingimos que já estava ali. É negação porque tentamos substituir a aparência inicial por uma aparência duplicada.
Vale sublinhar que qualquer coisa é um borrão em potencial porque qualquer coisa é uma aparência incompleta. Logo, a diferença entre imaginação e ilusão é muito sutil: a primeira reside na “lacuna” da aparência (não para preenchê-la, mas para mantê-la em aberto), ao passo que a segunda pressupõe que existe alguma coisa escondida por trás da aparência (quando invariavelmente somos nós que inserimos essa coisa ali escondida).

Isso me parece mais claro no caso da memória. Digamos que há uma voz em nossa mente que sempre anuncia, e sempre com total segurança, se ela encontrou ou não encontrou o que estávamos procurando no passado. Quando ela não encontra, a princípio ela nunca propõe uma solução alternativa: contenta-se em indicar que não há nada encontrado. Isso é esquecimento: o reconhecimento de um “nada” que passa a ser a aparência mais segura da existência daquela coisa que buscávamos.
Ora, não há ilusão alguma até aqui, pois essa coisa a que nos dirigíamos não foi incluída ou retocada. Pelo contrário, o esquecimento é pura precisão porque não consegue nenhum substituto, como essa sensação que eu tenho andando novamente nas ruas de São Paulo: uma imaginação dirigida àquilo que é distinto em toda aparência, pois a única consistência que eu pretendo evocar é a de uma aparência diferente de todas aquelas que me são oferecidas.
Difícil é compreender que a segurança enunciada pela memória não se opõe à incerteza constitutiva da imaginação. Mas talvez o esquecimento faça a “ponte”. Afinal, a imaginação não consiste em evocar percepções do passado, mas sim desviá-las (o que não significa substituí-las) mediante a aparência das coisas que assim se tornam tão mais precisas quanto nada representam do que já é conhecido. Ou seja, imaginar implica nada representar, ao passo que esquecer implica reconhecer e afirmar esse “nada”.

Creio que a relação entre imaginação e realidade seja análoga à relação entre memória e esquecimento: sem dúvidas há uma diferença entre os polos, mas não uma ruptura ou oposição. A não ser, é claro, que se trate de uma ilusão – como a de Madame Bovary (Flaubert), cujos sonhos são tão imprecisos quanto a realidade “borrada” que ela rejeita. Muito diferente é o mundo imaginário construído por Dom Quixote (Cervantes): por mais que ele veja dragões no lugar de moinhos de vento, ele nunca confunde uma pessoa com outra, um lugar com outro.
Em suma, o que há de impreciso no ilusório há de preciso na imaginação. Respondendo minha pergunta inicial, o que eu vejo nas ruas de São Paulo, minha cidade natal, é sempre uma cena não habitual que configura uma espécie de espaço protegido. Não um lugar de fuga ou escapatória, mas um lugar onde as aparências estão preservadas, protegidas daquilo que há de constitucionalmente frágil nelas mesmas. Dito de outro modo, essas ruas serão sempre as mesmas para mim, porque eu e elas somos sempre diferentes – sempre em qualquer lugar desde que seja em lugar algum.
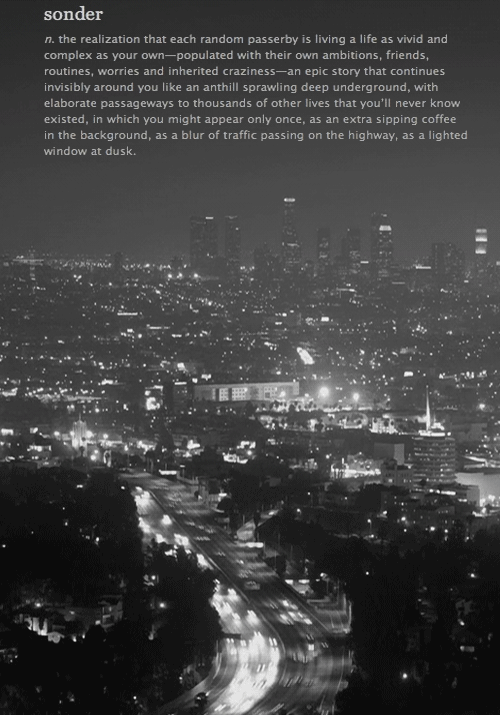
“É à nossa experiência que nos endereçamos – porque toda questão se endereça a alguém ou a alguma coisa, e não podemos escolher interlocutor menos comprometedor que o ‘tudo aquilo que é para nós’. Mas a escolha dessa instância não fecha o campo das respostas possíveis; não implicamos na ‘nossa experiência’ nenhuma referência a um ‘ego’ ou a um certo tipo de relações intelectuais com o ser, como o ‘experiri’ espinosista. Interrogamos nossa experiência, precisamente para saber como nos abre ela para aquilo que não somos. Isso não exclui nem mesmo que nela encontraremos um movimento em direção àquilo que não poderia, em hipótese alguma, estar-nos presente no original, e cuja irremediável ausência incluir-se-ia no número das nossas experiências originárias. Simplesmente, quando mais não fosse para ver estas margens da presença, para discernir estas referências, para pô-las à prova ou interrogá-las, é preciso fixar de início o olhar sobre aquilo que nos é aparentemente ‘dado’. (…) Não temos que escolher entre uma filosofia que se instala no mundo mesmo ou em outrem e uma filosofia que se instala ‘em nós’, entre uma filosofia que toma a experiência ‘de dentro’ e uma filosofia que, se possível for, a julgue do exterior, por exemplo em nome de critérios lógicos: estas alternativas não se impõem, pois que talvez o si e o não-si sejam como o avesso e o direito, e a nossa experiência é talvez esta reviravolta que nos instala bem longe de ‘nós’, no outro, nas coisas. Nós nos colocamos tal como o homem natural, em nós e nas coisas, em nós e no outro, no ponto onde, por uma espécie de ‘quiasma’, tornamo-nos os outros e tornamo-nos mundo. A filosofia só será ela própria se recusar as facilidades de um mundo com entrada única, tanto como as facilidades de um mundo de entradas múltiplas, todas acessíveis ao filósofo. A filosofia ergue-se como o homem natural no ponto em que se passa de si para o mundo e para o outro, no cruzamento das avenidas. (…) A verdadeira filosofia é compreender aquilo que faz com que o sair de si seja entrar em si e inversamente.” — Merleau-Ponty, O ser pré-objetivo: o mundo solipsista (O visível e o invisível, São Paulo, Perspectiva, 1992, p. 156-157).
The Centrifuge Brain Project, a mockumentary from Till Nowak.








Comentários
Os comentários estão encerrados.