
Crítica ao intelecto demasiado crítico
Acho que eu tinha uns 17 anos quando comprei uma edição da Fenomenologia do Espírito, leitura indicada pela professora de artes. Comecei a ler no percurso entre o colégio e minha casa, mas diante de tantas notas de rodapé e tantos termos em latim/alemão, não entendia uma palavra. Mesmo relendo cuidadosamente as frases, pesando a mão entre uma página e outra, era como rever a pauta da rádio CBN que meu pai colocava pela manhã. Dava sono. Ainda assim eu me esforçava diariamente para avançar mais uma página, até que um dia aquela professora tentou me explicar, entusiasmada, a dialética hegeliana. O que me afligia não era tanto o fato de eu continuar não entendendo nada; o que eu não entendia mesmo era aquela adoração quase infantil em relação a uma teoria que, eu desconfiava, talvez nem a professora tenha entendido.
Esta não foi nem a primeira nem a última tentativa de minha parte. Continuo tentando. Só que, de um modo ao mesmo tempo ingênuo e pretensioso, nunca consegui acreditar de antemão nesses livros “mágicos” – como se, antes mesmo da leitura, fosse preciso já venerá-los como algo completamente grandioso. E foi somente por esta via descompromissada e crítica, no entanto, que consegui entender vários livros de filosofia e reconhecer eventualmente algo de grandioso neles. O problema é que este eventual fascínio parece impor-se àquela pretensão inicial de uma leitura ingênua. Em outras palavras, como saber se já não estamos tão apaixonados por uma ideia a ponto de nos darmos por satisfeitos com aquilo que, até então, acreditamos saber?
I. O advento do artista intelectual.
Essa questão me faz lembrar o livro A obra prima desconhecida, especialmente o trecho em que Balzac comenta sobre o esforço do artista Frenhofer em transpor para a tela de pintura uma obra que fosse a realidade mesma de seu pensamento (e não simplesmente sua expressão). Quando Poussin, um espectador, depara-se com essa tela, ele só enxerga uma confusão de cores desprovidas de sentido, das quais apenas se destaca a forma da ponta de um pé. Com isso, Balzac parece querer delinear uma crítica acerca, de um lado, da intenção do artista – para escapar do mundo limitado das formas, ele não dispõe de outro meio além da própria forma – e, de outro, de seu apreciador ideal, isto é, o homem de “bom gosto”. Este seria um espectador dotado de uma sensibilidade suficientemente apurada para capturar o sentido da obra, embora ele necessariamente seja incapaz de produzi-la. Desse modo, Frenhofer converte-se em apreciador ideal de sua própria obra: ele é quem melhor conhece aquilo que não é capaz de produzir, de modo que nunca consegue alcançar a dimensão sensível apontada por seu apurado “bom gosto”.

Žižek define a arte como, entre outras coisas, aquilo que resiste à compreensão do conhecimento. A noção da arte como algo capaz de lidar com um nível de realidade não acessível à razão está longe de ser nova – como na Metafísica do Belo de Schopenhauer, para quem o artista digno desse nome criaria uma representação da própria Idea ao passo que o conhecimento abstrato lidaria apenas com fenômenos. Na perspectiva de Žižek, entretanto, não se trata de utilizar a arte ou a beleza como veículo para apreender a essência do mundo, e sim como aproximação do núcleo não simbolizável de nossa subjetividade que, na teoria lacaniana, é denominado Coisa (das Ding). “O Belo artístico é a máscara que o abismo da Coisa Real, a Coisa resistindo à simbolização, veste quando aparece” (ŽIŽEK, Órgão sem corpos, Boitempo, 2008, p. 211).
Trocando em miúdos, as pessoas não tratam alguém como um rei porque ele é um rei por si mesmo; ele é um rei porque as pessoas, antes, o tratam como tal. As pessoas não tratam um objeto como uma obra de arte porque ele é por si mesmo uma obra de arte; ele é uma obra de arte porque as pessoas o tratam como uma. A diferença é o que nos leva a considerar algo como obra: ao invés de uma significação convencional, racional e abstrata, deve haver uma lacuna por onde se inscreve nossa sensibilidade subjetiva (aquilo que para Žižek nunca é totalmente simbolizável). Essa lacuna, no entanto, nada mais é do que o reflexo, não da coisa em si, mas do próprio afeto que quer revesti-la de conceitos, traduções, significados. O nosso pensamento, portanto, é sempre uma forma peculiar de afeto que, no caso da situação da obra de arte, potencializa-se numa espécie de curto-circuito: o afeto que tenta traduzi-la não cessa de afetar-se.
O que nos impede de aceitar este fato – de que a razão é resultado do que convencionalmente se chama de sentimento ou afeto – é a recorrência de um paradigma cartesiano estigmatizado pela cisão entre a res cogitans (mente) e a res extensa (corpo), sendo esta relegada a um tipo de apêndice secundário em relação àquela. Quer dizer, a mente é tida como capacidade racional de eliminar os enganos originados pelo sensível, pelo corpo, pelos impulsos cambiantes, em proveito de uma percepção mais precisa e objetiva do mundo. Mas saber que existo, ao contrário do que queria Descartes, parece-me muito pouco para o fato de eu existir. É preciso que me sinta existindo e também que haja alguém que me reconheça existindo, pois o que efetivamente atesta a nossa existência é o que reconhecidamente sentimos em relação a ela. Deste modo, acreditamos não somente que algo existe independentemente do modo como afetivamente o apreendemos, mas sobretudo que há um “eu” se afetando e, portanto, existindo.

Essa digressão inicial foi apenas uma tentativa de esclarecer que, a meu ver, o engodo racional (do artista e de qualquer indivíduo) é o de nunca conseguir ser racional o suficiente para reconhecer a idealização daquilo que, até então, sensivelmente ele acredita saber. Creio que nenhuma consciência é capaz de apreender o mundo e nem a si mesma tal como supostamente são. Só que mesmo o fato de que, pelo que nos é dado a racionalmente saber, nada possui um sentido em si mesmo não nos impede de crer nos sentidos, razões e afetos que nós mesmos criamos. Porém, capturar o sentindo de uma obra, bem como a tentativa de representá-lo e incorporá-lo na obra, somente é possível se, em primeiro lugar, acreditarmos que há um sentido inerente à obra. Tal crença, por sua vez, é inteiramente indistinguível de nossa predisposição sensível em relação à forma aparente das coisas. E quando essa forma aparente contradiz o modo como racionalmente tentamos traduzi-las em conceitos, é quase certo que tenhamos um pensamento crítico.
II. Dúvida crítica contra as razões críticas.
Qual é a razão que motiva a crítica em geral? Manter-se desperto, esclarecido, intelectualmente sadio – diriam os críticos. A meu ver, entretanto, o que motiva a crítica nada mais é do que desconforto e desconfiança. Ao menos é isso que me motiva a escrever este texto: meu desconforto em relação a uma tendência de alguns críticos (que se pretendem para além do sensível) em escamotear pela via intelectual suas indisposições sensíveis. Em um primeiro momento, crítica significa não apenas realizar juízos e fundamentá-los, mas também investigar as bases dos julgamentos a fim de identificar estruturas elementares da consciência que julga. No entanto, na distância entre aquele que quer julgar e aquilo que teria de ser julgado, deve haver uma razão que se coloca de início supostamente isenta de predisposições morais e sensíveis.
A princípio, haveria duas razões deste tipo. A primeira seria a otimista, isto é, a ideia de que somos responsáveis pelo mundo, podemos e devemos transformá-lo com base na “verdade” e com isso nos tornarmos pessoas “melhores”. Portanto há uma premissa de progresso, calcada no “fato” histórico de que saímos da pré-história repleta de trogloditas para construir uma sociedade sustentável, pacífica, uma civilização que deve viver em harmonia, sem dor, sem horror, sem medo. Não se admite, sob este viés, que somos animais contraditórios, capazes tanto de exercer crueldade quanto de sentir compaixão. A segunda razão seria a pessimista, aquela que não acredita que as coisas possam melhorar. Só que tal descrença ainda se baseia na crença de que, se as coisas fossem de outro jeito (o jeito “certo”), o mundo poderia ser “salvo”. Mesmo quando um pessimista reconhece que “não há salvação possível”, ele nunca consegue alegrar-se com isso; ao contrário, sente pesar e tristeza (pois ainda crê que não deveria ser assim). Logo, tanto a razão otimista quanto a pessimista acreditam, cada qual a seu modo, na ideia de progresso/melhoria.

Ambos, o pessimista e o otimista, acreditam que tomar posições diante de qualquer assunto e, por meio da capacidade de análise racional e crítica, emitir opiniões a respeito é um pressuposto indispensável para o exercício de autonomia e dignidade. Particularmente, discordo em absoluto. Primeiro porque essa necessidade de tomar uma posição crítica não tolera que a posição seja a de não tomar posição alguma. Segundo, porque se busca adequar o pensamento a uma noção arbitrária de autonomia/dignidade previamente dada como essencial e desejável. E terceiro, porque há claramente uma obsessão por esclarecimento, por iluminação intelectual, por atestar a grandiosidade de uma consciência por meio da desaprovação de outras consciências. Claro que esta é apenas a minha opinião; estou apenas exercendo autonomia e dignidade, certo? Discorde de mim e sinta-se mais autônomo e digno por isso. Opa, a ironia não é considerada crítica?
O que particularmente me incomoda neste tipo de postura crítica não é tanto a indisfarçável arrogância esclarecida, a seriedade demasiado séria, a superioridade explícita de considerar-se apto a despertar, orientar e salvar os outros. O que me incomoda é a plena indisposição destes seres iluminados em conviver com pensamentos diferentes – não exatamente como intolerância, mas simplesmente como importância condicional: a vida e as pessoas são importantes se, e somente se, algum princípio como Deus, Revolução ou Conhecimento estiver na base, como justificativa, de todas as coisas. Acho que, por exemplo, “é direito do homem querer ser mulher!” não passa de um slogan que se leva a sério demais, como se as palavras, sozinhas, pudessem fazer os indivíduos transitar de um gênero a outro, de um paradigma histórico a outro. Além de ineficaz, é um enunciado que se coloca como superior, confundindo-se então com o enunciado adversário, que também se prende a um detalhe (o princípio condicional) que considera demasiadamente.
Pela via da dúvida (que não é crença nem descrença), contudo, outro tipo de crítica que me parece muito mais potente poderia ser feita. Por exemplo, sendo o que somos – diferentes em tudo, mas com um mesmo destino que é a morte –, o que faremos do que somos? Dado que um dia nossas relações, nossos afetos e nossas conquistas serão totalmente esquecidos (ao menos por nós mesmos), dado que nossa consciência será uma hora ou outra completamente apagada sem a menor reversibilidade, que importância tem a nossa existência? O curioso é que, ao invés de importância nenhuma, atribuímos a ela pela via da dúvida toda a importância do mundo. Um esclarecido certamente veria em tais perguntas um niilismo egoísta, concentrado num sofrimento individual e inalienável – talvez porque, se tirassem dele os princípios esclarecidos, é ele que não pouparia nada nem ninguém. Mas o que encontraremos a partir do pressuposto de que o único esclarecimento que temos é a morte seria, ao contrário, um sorriso de compaixão pelo outro.

O princípio de que ninguém escapa do fim, de que não há salvação para o tempo que passa, é conhecido por todos e, portanto, jamais poderia fundamentar uma crítica esclarecida. Sobretudo, longe de pessimista, este tipo de conhecimento é o que cimenta o chão simbólico-social por onde brota ternura, compaixão, alegria por existir e por poder partilhar uma existência finita. O combustível deste tipo de crítica pelo chão do trágico não é a filosofia, nem nossas crenças, nem nossas desconfianças. É antes a sensibilidade, o impulso afetivo e social que nos permite ser contraditórios, nunca grandiosos, mas ainda desejantes de viver e continuar vivendo, desde que junto a outras pessoas. Qualquer tipo de esclarecimento ou julgamento, aqui, nunca é tão importante quanto a “dúvida crítica” que implica pensar, sentir e existir. Esta é a minha crítica.
Não quero aprender nada com isso, muito menos ensinar, melhorar, transformar ou consertar. Quero só desaprender a pensar do mesmo modo que eu pensava antes. Quero poder me apaixonar por aquilo que acredito saber agora, mas podendo mudar de opinião uma, duas ou dez vezes sem o menor constrangimento de continuar pronunciando a palavra “verdade”. Com isso quero dizer que criticar também pode significar, para além de um julgamento otimista ou pessimista, a tentativa de não reduzir o intelecto à reprodução de uma mesma crença, uma mesma oração, uma mesma ideia, um mesmo conhecimento. Criticar também pode implicar viver sem ter que prestar contas a qualquer objetivo, missão ou salvação.
III. Saber é poder (ser cínico)?
Esta sentença de Francis Bacon, “saber é poder”, foi na verdade uma confissão: ao saber de algo, ele flagrava-se no “controle” daqueles que não o sabem. Nada de inédito, os gregos (e todo mundo) já o sabiam, mas com o tempo seus efeitos (as técnicas científicas) alimentaram uma agonia secular: a politização do pensamento. Incomodou a tal ponto de desencadear uma série de teorias armadas até os dentes para intervir nos jogos de poder: a politologia, a teoria das lutas de classe, a teoria crítica propriamente dita. Deste modo, o drama político-moral do século XX foi marcado pela competição entre os antigos detentores do poder – que aprenderam a abrir mão de velhos ideais como via pessimista para preservar o poder – e a consciência utópico-defensiva dos novos detentores do poder – a promessa salvacionista da conquista do paraíso na Terra. E com tantas décadas de revoluções e reconstruções reativas, cada um dos lados instruiu-se mutuamente na assimilação das oposições, nas técnicas do discurso e da dissimulação, na suspeita sempre à espreita das ideologias, na corrida pelo saber-poder mais rigoroso dos fenômenos.

O caso mais emblemático neste sentido me parece ser o da Teoria Crítica. Os frankfurtianos partiam do pressuposto de que, em um sistema de manutenção das dores e prazeres, o qual proporcionaria uma coisa intermediária entre prisão e parque de diversões, não poderia haver nenhuma crítica consistente. Afinal, esse sistema perverso operaria, dentre outras coisas, na dispersão do eu em proveito de uma “normalidade” almejada e regulada. Mas como se explica a contradição de que a mais importante crítica ao Renascimento feita no século XX se ligue ao nome de Walter Benjamin, um pensador que expôs de maneira concludente o fim da crítica? Em nome do quê ou de quem ele deu seu veredicto? É como se os frankfurtianos tivessem finalmente encontrado um “eu provisório” para a crítica, estabelecendo um local igualmente provisório com o qual a epistemologia tradicional não contava: um a priori da dor, o que lhes permitia defender o discurso elitista acerca de uma sensibilidade ainda não destruída. Por conseguinte, Adorno conseguiu propor um conceito bastante específico do sensível: a pressuposição nunca racionalizável de um melindre psíquico extremo, o que sustentava uma teoria estética que caminhava no limiar da náusea em relação a tudo e a todos.
Devemos reconhecer, no entanto, que Adorno está entre os pioneiros, no século XX, de uma crítica renovada do conhecimento que conta com um a priori emocional. Só que a certeza de o real estar efetivamente fundado na dor, na frieza e na rigidez marcou o acesso de sua filosofia ao âmbito ontológico. Permanecer sensível era uma postura por assim dizer utópica: manter aguçados os sentidos era uma possibilidade já perdida, mas à qual se devia manter-se em prontidão, porque nos protegeria dos enrijecimentos de tudo o que impõe poder institucional, legislador, patriarcal etc. Por conseguinte, sua teoria estética privilegiava o belo como uma espécie de espelho do mal do mundo, da frieza burguesa, do princípio da opressão, do negócio sujo e da motivação pelo lucro. A meu ver, este tipo de recusa original que fundamenta a Teoria Crítica é, ao mesmo tempo, aquilo que sabota seu campo de validade. Há uma universalidade da “verdade” a partir da qual nenhuma argumentação radical ou reacionária, por mais consistente que seja, conseguiria trazer o único princípio possível (a dor do mundo) verdadeiramente à tona.
A Teoria Crítica conseguiu muitos adeptos em meio a uma geração que começou a descobrir o que seus pais tinham feito ou tolerado em nome de algum imperativo moral, sobretudo no contexto bélico. Logo, as novas teorias críticas dos anos de 1960 tiveram de encontrar um novo ressentimento paralisante: a recusa contra a “masculinidade” hierárquica das relações de poder. E com a dissolução posterior do movimento estudantil europeu, toda essa sensibilidade da dor foi e continua sendo reforçada como índice de erudição e alto nível intelectual-acadêmico. A atmosfera crítica parece internalizar, cada dia mais, uma entediante fórmula de jardinagem que assiste cultivar, sob cinzas benjaminianas, flores do mal e beladonas freudianas. Escreve-se, em verdade, de maneira cada vez mais brilhante, cada vez mais profunda e afiada, mas recontando a mesma história do flâneur vencido que é lançado de um lado para o outro nos mares da alienação social.

Do lado de fora das acrópoles da razão intelectual, antigos valores ganham novos nomes e novos “escândalos” substituem antigas catástrofes, tudo de maneira espetacular e analgésica – as coisas nunca estiveram piores, ou finalmente ficaram melhores, até que todo o palavreado passe e novas notícias retomem o curso cotidiano. A ordem do saber-poder continua a vigorar, ainda que por meio de sua própria descrença. Tudo se passa como se uma antiga ingenuidade repentinamente tivesse sido perdida: estamos preparados para tudo, afinal nos tornamos invulneravelmente desconfiados de tudo. O poder sóbrio a que todos almejam pode ser adquirido com um “drops” de saber acerca da qualidade-de-vida, da consciência de nossa responsabilidade social, da manutenção da paz e do meio ambiente etc. No fundo, porém, a crença dominante é a de que toda e qualquer tentativa de resolver um “problema” nunca estará à altura da crítica esclarecida acerca deste problema. Criticar é poder? Talvez, não tanto por insegurança ou necessidade de reconhecimento social, mas principalmente como atitude heroica, bem intencionada, carregada de princípios e valores superiores. Todo pensamento assim se torna estratégia de comoção, toda sensibilidade assim se torna instruída, genérica e intercambiável.
Hipérboles à parte, vai saber, este sim me pareceria o ápice de um niilismo egocêntrico. Alguns diriam que se trata de “cinismo”, mas receio que este tipo de crítica nada mais faz do que precipitar-se a ser julgada da mesma forma. Em sua Crítica da razão cínica, Peter Sloterdijk postula que houve um momento da história em que parte do kynismos (cinismo filosófico antigo) se transformou em zynismus, isto é, a ironia teria “trocado de lado” para assumir a forma dominante da crítica esclarecida. Tal viragem, contudo, não teria excluído as manifestações kynikai, dado que a contemporaneidade, na concepção do autor, é especialmente marcada por uma ambiguidade nietzschiana, cujo principal eixo de estruturação seria uma dinâmica cínica-kyniké. Curioso é que o próprio título deste livro de Sloterdijk alude ambivalência: de um lado, crítica “à” (contra a) razão cínica e, de outro, crítica “da” razão cínica (como nova forma de crítica). Seja como for, o que vejo prosperar é, em suma, uma ambiguidade modernista-romântica: a revelação de que o indivíduo totalmente esclarecido, civilizado, liberado de todo preconceito, não é a encarnação do mais puro ideal de humanidade, mas tão somente um desiludido, insensível e melancólico crítico.
De fato, não há nada em comum entre o discurso de Diógenes, cuja ironia dependia do discurso dominante para existir como tal, e a moderna ironia crítica, fechada em si própria, que não responde a nenhum discurso dominante e assim não incomoda ninguém. Da dúvida extrema passamos a um dogma extremo – o de que não há mais dogmas. Não se trata do manto ideológico deformando a realidade, mas de um novo “senso de realidade” supostamente descolado de qualquer ideologia. Relativo ao discurso do cínico, sim, mas não se confunde necessariamente com o cinismo em si. Afinal, a partir do ponto de vista da ausência de pontos de vista, a crítica progrediu e ganhou mais força, ao contrário do que previam os fundadores da Teoria Crítica. O à priori da dor assim permaneceu em seu mecanismo elementar: as coisas mais simples continuam a parecer tão pesadas e agressivas para aqueles que, deste modo, “abrem criticamente os olhos”.

Não muito tempo antes da morte de Adorno, houve uma cena em um auditório da Universidade de Frankfurt que se ajusta como uma chave à análise do cinismo aqui iniciada. O filósofo estava justamente em vias de começar sua preleção, quando um grupo de manifestantes o impediu de subir ao tablado. Algo desse gênero não era incomum no ano de 1969. Nesse caso, porém, algo obrigou as pessoas a olharem mais atentamente. Entre os desordeiros se fizeram notar algumas estudantes que, em protesto, desnudaram seus seios diante do pensador. De um lado se achava a carne nua, que exercia “crítica”, de outro o homem amargamente desiludido, sem que praticamente nenhum dos presentes tivesse experimentado o significado de crítica – cinismo em ação. Não foi a violência nua que emudeceu o filósofo, mas a violência da nudez. Justo e injusto, verdadeiro e falso foram misturados nessa cena de maneira inextrincável, de uma maneira que é pura e simplesmente típica para cinismos. O cinismo ousa se mostrar com verdades nuas, que mantêm algo falso no modo como são expostas. – Peter Sloterdijk, Crítica da razão cínica (Estação Liberdade, 2012, p. 26).
IV. O ministério da crítica adverte: viver é prejudicial à vida.
O fato de que a realidade é uma forma de ficção, e o de que ficções estruturam o real ao reforçarem propriamente essa dicotomia, é um pressuposto filosófico básico muito claramente enunciado por Nietzsche. Entendo que tal dinâmica ficcional é uma condição imprescindível tanto para a criação de valores quanto para a desconfiança neles. É imprescindível, acima de tudo, para manter uma vontade plena de viver acima de qualquer crença sobre o que significa a vida. Muitos críticos denunciam este “não acreditar” como niilismo puro e simples: não se importar com nada e levar a vida sem qualquer tipo de comprometimento. Acontece que desconfiar de valores não significa necessariamente não se comprometer com valor algum; querer viver independente do que isso signifique é um comprometimento deveras caro. Saber que a realidade vivida é organizada por ficções que lhe atribuem valor e significado não muda o fato de que vivemos nela – a diferença está em comprometer-se com uma ideia de vida ou com o viver em si.
Do mesmo modo, saber que uma mulher, por exemplo, precisa de uma série de atributos simbólicos para ser reconhecida como tal é muito diferente de acreditar que ela é naturalmente inferior ou superior ao homem. Quero dizer: acreditar que nossos vínculos, ideias e crenças são pura enganação, que qualquer valor não passa de uma farsa consentida, não tem nada a ver com o que dizia Nietzsche; ao contrário, refere-se a um esclarecimento quase metafísico, ou seja, pretensamente descolado de qualquer estrutura ficcional e, portanto, do viver em si. É como dizer que ser corrupto é da natureza intrínseca de todo político, ou que toda palavra “oficial” é mentirosa, e que nós (os esclarecidos) pelo menos temos a honestidade de admiti-lo sem maiores constrangimentos. Este é um tipo de metafísica que vigora por meio de sua própria descrença.

Claro que, contudo, denunciar este tipo de manobra crítica no campo político seria, senão muito óbvio, demasiado exaustivo. Vejamos então o caso de uma mostra que ficou famosa no circuito artístico de São Paulo, intitulada O corpo delito. As peças que foram expostas eram talheres, guardanapos, travesseiros, bandejas e outros objetos retirados (roubados) de aviões e que ali foram “ressignificados”. Cada peça da exposição estava à venda por um preço exorbitante, pelo menos ao olhar não esclarecido, o que não cobria, contudo, o valor exigido pela ação que acusava a artista de roubo, falsidade ideológica, incitação ao crime e, enfim, heresia contra a moral dos bons costumes. Após defender-se, sem êxito, pelo previsível viés dos ready-mades, a artista alegou que juntou todas aquelas coisas para capturar e trazer à tona todo o valor cultural do patrimônio das companhias aéreas. Disso resultou um rápido arquivamento do processo (pelo qual ninguém estava seriamente interessado) e, claro, uma ínfima repercussão do nome da artista.
O detalhe que me parece interessante não é a comparação com o gesto de Duchamp – como se não houvesse entre ambos sessenta anos de masturbação conceitual –, mas o fato de que muitos dos utensílios furtados foram efetivamente vendidos. Aquém de qualquer discussão ética ou estética, o que me chamou atenção é que o que foi vendido não eram objetos fakes que se fingem de fakes, mas antes uma crítica que mente falando a pura verdade. É preciso acreditar que temos um “original” em mãos, desde que saibamos que é de mentirinha. Este é precisamente o logro da crítica: acredita-se que saber da mentira nos dá acesso a mais pura verdade. No caso da mostra de arte em questão, a crítica é a exposição mesma, não as obras furtadas que ali foram vendidas. Ao comprarmos um saquinho de vômito, estamos comprando a exposição inteira, que em contrapartida nos fornece a garantia de esclarecimento, bom gosto, requinte e superioridade.
Em outras palavras, parece-me que o pensamento crítico é simplesmente incapaz de aceitar qualquer coisa que não o comprove como arauto da grandeza humana. Só que não é tão simples dizer isso, sobretudo mediante a provável desconfiança que tal enunciado desperta: ora, mas não estaria eu fazendo o mesmo, ao criticar este tipo de pensamento? Em primeiro lugar, o discurso esclarecido só é esclarecido para quem assim o deseja, para quem joga esse jogo da mais-valia intelectual. Em segundo lugar, sim, estou jogando também, mas insistir no quanto os discursos não se ajustam às coisas, no quanto o pensamento não alcança nada além de si mesmo, parece-me totalmente ineficaz para disputar o quer que seja. Uma coisa é denunciar um fato para distinguir-se dele, outra coisa é denunciar sabendo que a própria denúncia não está acima do fato denunciado. Acreditar que a realidade é uma forma de ficção é bem diferente de querer que esta própria crença, ou qualquer outra, esteja à parte das ficções, portanto à parte do que se crê. Se muitos princípios estão sendo aqui defendidos, não é com o intuito de esclarecer o que quer que seja além do fato de que não há nada a ser esclarecido. Há apenas ficções.

O que há para se esclarecer, por exemplo, ao senso comum? Já não se sabe da fugacidade do tempo, que todo mundo de repente existe sem ter escolhido existir e invariavelmente destina-se a deixar de existir? Não creio que um analfabeto esteja desprovido de saber, seja incapaz de pensar ou mesmo que lhe falte algum instrumento necessário para agir ou ser consciente de si. O que talvez falte ao senso comum são recursos para expressar e se fazer ouvir isso que já sabe. Mesmo tendo à disposição, por exemplo, a linguagem religiosa, os tantos provérbios populares e os rituais coletivos que evocam e incorporam ficções diversas, permanece uma série de questões sobre as quais é comum silenciar: a instabilidade emocional, as contradições das relações, a fragilidade daquilo que assumimos como “eu”, a insuperável incerteza do que virá, as dúvidas enfim. Não se trata de conteúdo recalcado ou reprimido, mas de constatações conscientes que, ainda que não tenham sido refletidas, continuam presentes como um saber sobre o qual não se fala.
Em parte, não se fala porque, conforme a lei do discurso crítico-esclarecido, aquele que confessa há de ser execrado e perseguido, especialmente caso a confissão seja de culpa, de incerteza ou de desejos “primitivos” – e, se for crucificado, o será não por ter faltado com a “verdade”, mas por ser incapaz de continuar mentindo em seu nome. Em parte, contudo, também não falamos sobre certas coisas porque deliberadamente não queremos. Às vezes até sabemos a resposta (por que ela te deixou, por que aquilo não deu certo etc.), mas insistimos em reformular a pergunta, insistimos em criar ficções passíveis de se tornarem reais, insistimos em duvidar das coisas – e a dúvida tende a criar-se em silêncio. Por isso creio que o homem comum é menos crente do que se imagina. É claro que a maior parte da população participa de cultos religiosos e segue princípios bem definidos sobre família, felicidade, justiça etc. Mas são raros os casos heroicos em que se abre mão de tudo em nome de uma causa ou missão; o mais fácil é ver gente pagando promessa. As pessoas rezam porque têm mais dúvidas do que certezas. É muito pouco, é quase nada, mas tal gesto passa longe de conformismo ou resignação – trata-se de um desabafo, de uma confissão, de falar sobre o que não se pode ou não se quer falar na maior parte do tempo.
A vontade maior é a de continuar vivendo apesar de tudo, cultivando assim certa ingenuidade de nunca idolatrar a si mesmo – o que obviamente não é nada ingênuo, uma vez que se permite escapar do jogo crítico-emancipatório justamente ao duvidar, em silêncio, da enunciação non sancta que o esclarecido se empenha pronunciar como “santa”. Quero crer que é nesse sentido que Barthes afirmava que o fascismo não é impedir de falar, mas sim obrigar a falar. Também quero crer que o exercício filosófico nunca foi o de descobrir ou atribuir sentido ao mundo, mas o de confessar silenciosamente (pela dúvida) essa insensatez de pretender que o mundo tenha um sentido. Se o que nos força a pensar é sempre o espanto, nunca a apatia, diante das coisas que nos acontecem ao acaso, o investimento filosófico relevante deve ser solidário a certo silêncio que força o pensamento a reconstruir quadros conceituais para continuar em estado de espanto.

Acho engraçado, neste ínterim, os imperativos filosóficos que fazem apologia à indignação contra qualquer tipo de imposição de poder, mas impedem que alguém se indigne contra a própria filosofia e sua lógica do saber-poder. Eis o que me incomoda neste tipo de orientação crítica-esclarecedora: há uma clara indisposição de permitir que o interlocutor simplesmente pense, porque logo de início não se reconhece que ele já pensa, ainda ele que não possa ou não queira falar isso que pensa. O traço de estilo da crítica, deste modo, está em falar como se estivesse enunciando de um lugar neutro, seguro, sem qualquer implicação ideológica mesmo quando se posiciona ideologicamente, o que não deixa de ser uma estratégia de dissimulação da verdade objetiva sobre si mesma: vencer a qualquer custo, isto é, saber-poder. E aqui faço questão de mencionar, sendo contraditório mesmo, um mecanismo muito bem percebido e diagnosticado por Adorno: a verdadeira estratégia de poder não reside tanto na imposição de uma norma de pensamento, mas na organização prévia das possibilidades de escolha (de condutas, de sentidos, de ficções). Trata-se de operar uma reificação do pensamento ao relegar o movimento da escolha ao circuito limitado de um pêndulo que vai necessariamente de um polo a outro – e ir de um polo a outro é apenas uma maneira mais astuta de não andar.
Isso me faz lembrar o quanto Brian, famoso personagem do Monty Python, sofria ao perceber a multidão lhe seguindo. Ele dizia “parem de acreditar cegamente no que eu digo, pensem com a própria cabeça”, e a multidão respondia em uníssono “Sim! Diga mais!”. Por meio de um distanciamento crítico, poderíamos questionar: justamente por Brian não querer ser líder, não teriam todos pensado livremente e decidido que é ele quem deveria guiá-los? Ou será que, por definição, toda multidão é uma massa burra? Prefiro deixar o distanciamento crítico de lado e ficar com aquilo que já se sabe embora não se possa ou não se queira admitir: Brian está perdido, a multidão também, assim como todos nós.
Tudo o que podemos fazer é solidarizar ou não com este mesmo “barco”, aceitar estar nele ou recusá-lo criticamente. A opção de aceitar não tem nada a ver com resignação, tampouco com esclarecimento. Tem a ver com desejo de ter alguém para partilhar ideias, sofrimentos, alegrias e assim reconhecer-se no outro. Em última instância, portanto, o maior problema que vejo em sentir-se esclarecido é tornar-se apático. Não conseguir mais dar risada ao assistir Monty Python é sinal de esclarecimento. Não consigo levar este tipo de gente a sério, assim como nunca consegui levar totalmente a sério nada que não me faça rir. Não o riso do sarcasmo, mas o riso da contradição; não rir das pessoas, mas rir com as pessoas, sem distanciamento nem desinteresse. E talvez esta seja a maneira mais eficaz crítica: continuar rindo porque, felizmente, nos tornamos cada vez mais ingênuos.



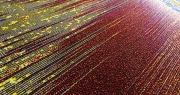

Comentários
Os comentários estão encerrados.