
Da câmara escura ao olhar sem precedentes
* Resenha do livro Técnicas do observador: visão e modernidade no século XIX, de Jonathan Crary (Rio de Janeiro: Contraponto, 2012; coleção ArteFíssil).
Ao retomar a prática do desenho, que deixei totalmente de lado na última década, tenho refletido sobre uma série de aspectos práticos e filosóficos da visualidade. Além do fato de que a expressão do desenho se conjuga no olhar que o antecede, conforme já comentei por aqui, percebi que desenhar, assim como ler, falar, dirigir ou tocar um instrumento musical, é uma habilidade que com o tempo se “automatiza”. Em geral, quase nos esquecemos de termos passado pelo processo de aprender a dirigir – um belo dia você se viu dirigindo ou tocando violão sem ter de pensar em cada movimento parar fazer isso.
Não significa que este processo seja fácil, muito menos que o aprendizado tenha fim. Sabe-se que, para muitas pessoas, desenhar é tido como uma tarefa árdua e dificilmente assimilável. Geralmente isso acontece porque tendemos a ver o que esperamos (e por vezes até o que intencionalmente queremos) enxergar, descartando alguns aspectos da coisa vista, acrescentando outros e, enfim, retocando-a subjetivamente. Em certo sentido, pois, aprender a desenhar implica trocar um hábito automático por outro, como um “treino” para enxergar não tanto o mundo visto, mas antes as coordenadas que nos permitem vê-lo.
Pretendo aqui apresentar o livro Técnicas do observador, de Jonathan Crary, não para tratar da prática do desenho, e sim da organização histórica e cultural dessas coordenadas do olhar que permeiam a visualidade contemporânea. Creio que, ao compreendê-las, poderemos problematizar com mais amplitude a experiência visual em meio àquilo que muitos chamam de cultura do espetáculo – recorrentemente associada a formas variadas de “desatenção”, fragmentação, desreferencialização dos valores etc. Se é verdade que haveria em curso certa desestabilização das certezas concernentes tanto ao real quanto ao ilusório, em proveito da liberação e mobilidade de modelos e referências que lhes emprestavam valor, então desenhar não mais se sustentaria como mera técnica posta a serviço de uma ideia prévia e acabada que precisa ser ilustrada ou representada.

De um lado, os imperativos da modernização globalizante, à medida que esvaneceram o predomínio da visão clássica, geraram técnicas para impor uma atenção visual mais acurada, para racionalizar a experiência sensível e para administrar a percepção. De outro, em claro contraste com o aspecto instrumental, cambiante e abstrato dos novos modos de representação, o desenho reaparece como busca de algo que não se conhece ainda, como ação intransitiva: para desenhar, é preciso ignorar a precedência do conhecimento e assumir a hesitação como elemento central daquilo que se deixa gravar na textura do papel.
I. Introdução: do automatismo à precariedade do novo
Para o nosso olho é mais cômodo, em uma dada ocasião, reproduzir uma imagem já produzida com frequência do que fixar o que há de novo e diferente em uma impressão. – Nietzsche, Além do bem e do mal (Cia. das Letras, 1992, livro V, § 192, p. 92).
Não é novidade o discurso segundo o qual o mundo “real” é cada vez mais ordenado por milhões de bits de dados matemáticos eletrônicos. Aparentemente, a maioria das funções historicamente atribuídas ao olho humano tem sido suplantada por uma reconfiguração das relações entre o sujeito que observa e os modos de representação – desde a fotografia, o cinema e a televisão (que até meados de 1970 eram, em geral, formas de mídia analógica que ainda correspondiam aos comprimentos ópticos de onda) até as recentes técnicas de computação gráfica, a holografia, o reconhecimento automático de imagens, os sensores multiespectrais etc. Com efeito, entram em cena novos modelos de visualização de acordo com os quais funcionam os principais processos sociais e instituições.
No entanto, esta impressão de uma ruptura recente da visualidade, que alguns chegam a comparar com aquela entre a imagética medieval e a perspectiva renascentista, não me parece muito apurada. Por um lado, na esteira de Benjamin, não existe repetição, continuidade ou descontinuidade na história; as características das “explicações históricas” alteram-se de acordo com as determinações do presente em que as resgatamos. Por outro, nossa experiência mais banal nos sugere que, à medida que conhecemos mais lugares e pessoas, as coisas nos parecem cada vez mais semelhantes: os rostos, por exemplo, rementem-se uns aos outros, às vezes diferindo por detalhes irrisórios, quase imperceptíveis, que correspondem apenas, na disposição das proporções, a alguns milímetros de diferença.
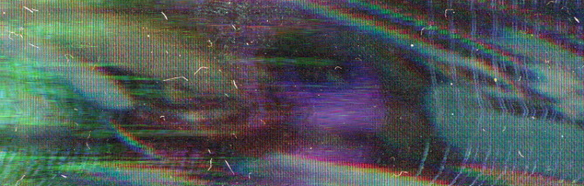
É claro que esta impressão é falsa; nos termos de Deleuze, é no reino do mesmo que habita a diferença. Mas é este tipo de impressão que reside por detrás das fórmulas de desenho “for dummies”, tanto quanto da ideia de que o comportamento humano é estatisticamente calculável, suas opiniões manipuláveis, e de que, em suma, o homem é menos um indivíduo do que um elemento de uma massa homogênea. É neste registro automático da visão, e não tanto num terreno cibernético digital, que coincidem e circulam os elementos abstratos, linguísticos e visuais que atualmente consumimos e trocamos em escala global.
Tendo isso em vista, a interrogação que devemos associar ao espetáculo, à reprodutibilidade técnica, às redes de informação etc. diz respeito a uma precária interface que nos constitui: até que grau de reconhecimento um indivíduo continua sendo ele mesmo? Até que grau de registro e recorrência do passado um ser amado continua sendo amado? Como explicar a reação visceral que as pessoas têm não mais diante de pinturas figurativas, óperas e clássicos da literatura, mas diante de instalações conceituais, novelas e reality-shows? Durante quanto tempo um rosto que se distancie na doença, na loucura, na raiva, na morte, continua reconhecível? Onde está a fronteira atrás da qual um “eu” deixa de ser um “outro”?
Um interessante ponto de partida para tais questões pode ser encontrado em Técnicas do observador: visão e modernidade no século XIX [TdO], do historiador Jonathan Crary. Mais do que examinar a organização da visão moderna, Crary aponta para uma reconfiguração radical do modelo epistemológico vigente nos séculos XVII e XVIII, ruptura a partir da qual uma abstração da visão encontraria suas precondições decisivas. Se antes o mundo visto era concebido como efeito de leis naturais, de base newtoniana, que independiam de um corpo humano até então entendido como “enganador”, uma nova experiência teria sido convocada, sobretudo a partir de Goethe (em sua conhecida doutrina das cores), no início do século XIX: a de que as imagens também são efeito de um olho que vê e ao mesmo tempo as produz.

Este percurso de modernização da percepção, explorado por Crary, corresponderia a um segundo movimento da “modernidade” ainda em curso: da transparência de um olho que capta um mundo externo prévio passa-se a uma visão ancorada na corporeidade do observador, de modo que o próprio objeto de conhecimento e da percepção (o mundo) perde seu caráter assegurado de algo previamente dado. Seguindo este raciocínio, a invenção da fotografia e os movimentos artísticos paralelos, de Turner aos impressionistas, são “sintomas tardios” desta opacidade perceptiva de onde se formaram novos arranjos e dispositivos (no sentido foucaultiano, aquilo que reúne discursos, visualidades, enunciados científicos e proposições filosóficas organizados em rede). Trata-se de uma visada que reconhece que, assim como nenhuma configuração histórica isola-se das demais, também as “formas de olhar” misturam-se e sobrepõem-se umas às outras nos modos de se perceber e habitar o mundo.
Logo de início, Crary revela sua motivação genealógica contra a historicização padrão de um pensamento que supostamente evolui ao longo da história – ou seja, não é uma estrutura absoluta-transcendente, nem uma base econômica ou uma visão de mundo que determina o pensamento em dado momento histórico, mas antes uma conjunção de elementos díspares num sistema de convenções e restrições inseparável do sujeito que o compõe. Sendo assim, ao contrário do que nos sugere boa parte das teorias da cultural visual moderna, as correntes artísticas modernas, por exemplo, não se resumem a uma simples mudança nas convenções de representação, dos séculos anteriores, definidas vagamente como renascentistas ou normativas. Ou ainda, ao contrário do que nos ensina a didática da periodização histórica da arte europeia, as novas formas de olhar nada têm a ver com um suposto fim do espaço em perspectiva, dos códigos miméticos e do referencial figurativo, como se o “realismo” tivesse atingido seu limite com o advento da fotografia e a disseminação do cinema.
É neste sentido que a impressão de uma ruptura recente da visualidade é muito mais limitada do que dá a entender o alarde que a cerca. Tal ideia de ruptura depende de uma dicotomia simplista entre realismo x abstracionismo, ao passo que, olhando mais de perto, a persistência dos códigos miméticos é condição necessária para o avanço das vanguardas. Do mesmo modo, a própria ideia de uma “arte moderna” enquanto estilo, resistência cultural ou prática ideológica depende de um ponto de vista ardilosamente distanciado, sempre em relação a um rigoroso pano de fundo normativo – não obstante, o próprio “modernismo se apresenta como o advento do novo para um observador que permanece o mesmo e cujo estatuto histórico não é questionado. […] Portanto, já não é possível reduzir uma história do observador a transformações técnicas e mecânicas, nem a mudanças ocorridas nas formas de obras de arte e de representação visual” (TdO, p. 14/17).

II. Panorama preliminar: a lógica da equivalência pelo referencial ausente
A moda não existe em uma sociedade ordenada em castas, já que a cada um é designado um lugar em caráter irrevogável. A mobilidade de classe não existe. Uma interdição protege os signos e lhes assegura uma clareza total; cada signo se refere inequivocadamente a um status. […] Nesse sentido, os signos são tudo, menos arbitrários. O signo arbitrário começa quando, em vez de vincular duas pessoas em uma reciprocidade indestrutível, o significante começa a se remeter a um mundo desencantado de significado, um denominador comum do mundo real em relação ao qual ninguém tem qualquer obrigação. – Jean Baudrillard, A troca simbólica e a morte (Loyola, 1996, p. 84-85).
Baudrillard é mencionado por Crary para pontuar a racionalidade que teria habituado o olhar burguês a perceber a realidade como algo mensurável em termos de signos e objetos. A modernidade, para Baudrillard, está estritamente ligada à desestabilização e à mobilidade de signos que, desde o Renascimento, foram paulatinamente desenraizados no interior de hierarquias sociais fixas. O controle aristocrático dos signos teria se enfraquecido mediante a proliferação sob demanda de imitações, cópias, falsificações e das técnicas para produzi-las – “Aqui, o problema da mimese não é um problema de estética, mas de poder social; um poder fundado na capacidade de produzir equivalências” (TdO, p. 21).
O novo tipo de signo que emerge no século XIX, por sua vez, remete a objetos potencialmente idênticos produzidos em séries indefinidas, ou aquilo que Benjamin descreve como “fantasmagoria da igualdade” referindo-se ao papel da mercadoria. Paradoxalmente, a necessidade crescente de semelhança e intercambialidade entre os signos – necessidade que, diga-se de passagem, não resultou dos desenvolvimentos em um setor econômico, mas das exigências da guerra (a munição e as peças de reposição militares foram o modelo mais importante para a produção industrial em série no século XIX) – não aparece como retorno da representação mimética, e sim como nivelamento homogêneo por equivalência e indiferença.
Paralelamente a este argumento, o historiador recorre a Foucault para demonstrar que a revolução industrial coincidiu com o surgimento de novos métodos para administrar a população urbana: “Na medida em que indivíduos foram sendo arrancados dos antigos regimes de poder, da produção agrária e artesanal e das grandes estruturas familiares, novos arranjos descentralizados foram concebidos para controlar e regular essas massas de sujeitos relativamente livres e abandonados à sua sorte” (TdO, p. 23). A gestão dessas massas dependeu de uma acumulação de conhecimento sobre elas, especialmente no que concerne a normas quantitativas e estatísticas de comportamento, culminando naquilo que Foucault chamava de “técnicas disciplinares”. Deste modo, a transformação descrita por Foucault em termos do indivíduo dialoga com a passagem destacada por Baudrillard das hierarquias fixas para um regime intercambiável de signos:

O momento em que passamos dos mecanismos histórico-rituais de formação da individualidade a mecanismos científico-disciplinares, em que o normal tomou o lugar do ancestral, e a medida do lugar o do status, substituindo assim a individualidade do homem memorável pela do homem calculável, esse momento em que as ciências do homem se tornaram possíveis é aquele em que foram postas em funcionamento uma nova tecnologia do poder e uma nova anatomia política do corpo. – Michel Foucault, Vigiar e Punir (Vozes, 2004, p. 161).
Ainda no que se refere a um panorama preliminar, Crary menciona os estudos de Benjamin para sublinhar o declínio da importância dada à pintura enquanto modalidade artística no decorrer do século XIX. Atento à figura do flaneur, este observador ambulante formado no cerne dos novos espaços urbanos – iluminação artificial, arquitetura de vidro e aço, ferrovias etc. –, Benjamin entendia que a percepção no contexto da modernidade nunca revelava o mundo como presença, e sim como fluxo, fugacidade e sedimentação de um olhar múltiplo, contíguo e sobreposto aos objetos, desejos e discursos. Ao mesmo tempo, entretanto, Crary demonstra como este mesmo dinamismo “desnaturalizado” para o qual Benjamin tentava propor alternativas radicais é o que teria condicionado, ironicamente, uma visão que reativava o presente, capturado na própria efemeridade de seus estímulos (a partir dos quais ganhariam força estudos empíricos e quantitativos das pós-imagens retinianas e de sua temporalidade específica, conforme o autor expõe longamente nos capítulos 3 e 4).
Seja como for, a aura dos museus começava a concorrer com a de um mundo em que tudo estava em circulação. Com o alcance crescente dos sistemas de comunicação, a pintura passou a ser vista não mais em uma tradição contínua de códigos pictóricos, mas como um dos muitos elementos consumíveis e transitórios em um caos cada vez maior de imagens, mercadorias e estímulos. Isso se reflete no trabalho dos fundadores da história da arte (que, enquanto disciplina acadêmica, tem origem nesse mesmo ambiente do século XIX): as obras de arte deste período foram excluídas dos esquemas explicativos e classificatórios então elaborados, mesmo no início do século XX. Isso porque, para os primeiros historiadores da arte, haveria uma descontinuidade na arte moderna em relação à dos séculos anteriores:
[…] com toda sua erudição, o interesse de Morelli pela autoria e a originalidade ocorre quando novas tecnologias e formas de troca abalam as noções de autoria, originalidade e “feito à mão”; e a busca, por parte dos estudiosos da Escola de Warburg, de formas simbólicas que expressassem as bases espirituais de uma cultura unificada coincide com uma ansiedade cultural coletiva diante da ausência ou impossibilidade de tais formas no presente. Esses modos sobrepostos de história da arte privilegiaram os objetos da arte figurativa da Antiguidade e do Renascimento. – Jonathan Crary, TdO, p. 30.

Pintores tão diversos quanto Ingres, Overbeck, Courbet, Delaroche, Meissonier, Millais, Gleyre, Bouguereau, Cabanel, Gerôme e Delacroix, para citar alguns que prosseguiram numa linguagem representacional mimética e figurativa aparentemente semelhante àquela que os havia precedido, foram notadamente ignorados por autores como Burkhardt, Hildebrand, Wölffling, Riegl e Fiedler. Por sua vez, as gerações seguintes de historiadores da arte apenas aplicaram os métodos de seus antecessores à arte do século XIX – como vemos, por exemplo, em De Davi a Delacroix que Walter Friedlander publicou em 1930, apresentando a pintura francesa em termos de mera alternância entre fases clássicas e barrocas. Um século antes disso, após 1830, não apenas a pintura já perdia crédito como categoria autossuficiente de estudo, como qualquer outro meio de representação visual singular (não reproduzível como a gravura) deixava de afirmar uma identidade autônoma significativa – não por acaso Benjamim descrevia o museu de arte do século XIX como um dos muitos “espaços de sonhos”, como jardins botânicos, estações de trem e lojas de departamento.
Ao tornar intercambiável o que é singular, enfim, a modernização da visão lançou mão de uma lógica do mesmo, porém situando-a em uma relação inversa à estabilidade das formas tradicionais. É também em meio a esta incessante criação de novas necessidades e maneiras de olhar o mundo, sob o custo de eliminar tudo que impede a circulação, que o advento e a disseminação da fotografia figuram como componentes cruciais de uma nova economia de valor e troca (de signos não mais fixados em referenciais estáveis), e não tanto como partes de uma suposta evolução sucessiva da representação visual. Crary chega a comparar a fotografia ao dinheiro como sendo, ambos, sistemas “mágicos” que englobam e unificam os sujeitos em uma única rede cambiante e homogênea de valoração e desejo. Deste modo, associando duas formas distintas de economia que se interpenetram, Crary sustenta que o mundo social tem sido representado e constituído exclusivamente por signos.
III. Da imagem que subsiste aquém da câmara escura
Cabe-nos rejeitar os preconceitos seculares que colocam o corpo no mundo e o vidente no corpo ou, inversamente, o mundo e o corpo do vidente, como numa caixa. Onde colocar o limite do corpo e do mundo, já que o mundo é carne? Onde colocar no corpo o vidente, já que evidentemente no corpo há apenas “trevas repletas de órgãos”, isto é, ainda o visível? […] A película superficial do visível é apenas para minha visão e para meu corpo. Mas a profundidade sob essa superfície contém meu corpo e, por conseguinte, contém minha visão. […] Há recíproca inserção e entrelaçamento de um no outro. – Merleau-Ponty, O visível e o invisível (Perspectiva, 1992, p. 134-135).

A tese de central de Técnicas do observador, no entanto, diz respeito a uma transformação que antecede o surgimento da fotografia, focando-se mais no período entre 1810 a 1840. Ao eleger a câmara escura como modelo de visão predominante na Europa durante os séculos XVII e XVIII, Jonathan Crary estabelece um fio condutor pautado na controvérsia de uma percepção autônoma – noção valorizada na obra de Goethe e de Schopenhauer, bem como na psicologia e na fisiologia do início do século XIX – apartada de qualquer referente externo. A novidade de sua tese, pois, reside no apontamento de um complexo reordenamento do conhecimento que precede a invenção da fotografia e que de forma alguma requer procedimentos fotográficos ou mesmo o desenvolvimento de técnicas de produção em série.
Até aqui vimos que a visualidade moderna não é entendida por Crary em termos de colapso dos modelos clássicos de visão e representação, mas especialmente por um nivelamento de sensações e estímulos equivalentes, desprovidos de referenciais estáveis. Sob este viés, entre a câmara escura e a câmera fotográfica há mais subversão do que evolução. Enquanto a primeira substituiu a base aristotélica da “verdade visual” por um regime de objetivação e distanciamento do sujeito em relação ao mundo observado, a câmera fotográfica confrontou esse regime pela opacidade corpórea e subjetiva do espectador. Logo, na contramão de muitas explicações influentes da história da fotografia e do cinema, o argumento aqui não parte de um aperfeiçoamento mecânico que se proliferaria em um campo histórico-social, e sim de uma dinâmica em que a posição e a função de uma mesma técnica são historicamente variáveis, a um só tempo contradizendo e coincidindo com o colapso entre modelos de visualidade.
Diferentemente de uma construção em perspectiva que também presumia fornecer uma representação objetivamente ordenada, a câmara escura impôs uma área ou um lugar restrito a partir do qual a imagem mostra sua plena coerência e consistência. Por um lado, o observador é dissociado da pura operação do aparelho; está lá como uma testemunha descorporificada de uma re-(a)presentação mecânica e transcendental da objetividade do mundo. Por outro, sua presença na câmara implica uma simultaneidade espaçotemporal entre a subjetividade humana e a objetividade do aparato.
– Jonathan Crary, TdO, p. 47.
Há pelo menos dois mil anos sabe-se que quando a luz passa por um pequeno orifício para um interior escuro e fechado (uma caixa ou uma sala), uma imagem invertida surge na parede oposta. Pensadores tão distantes entre si como Euclides, Aristóteles, Leonardo da Vinci e Kepler não apenas se apropriaram da câmara escura, como também especularam de várias maneiras em que medida ela poderia ser análoga ao funcionamento da visão humana. De acordo com Crary, porém, é apenas nos séculos XVII e XVIII (especialmente nos trabalhos de Kepler, Descartes, Newton e Locke) que a câmara escura torna-se o modelo mais amplamente usado para explicar a visão humana e representar tanto a objetividade do mundo quanto a posição do sujeito cognoscente em relação a este mundo.

Disseminada durante dois séculos como instrumento de diversão popular, de investigação científica e de prática artística, a câmara escura perdurou enquanto metáfora nos textos de Hegel, Marx e Freud, que a descreveram não mais como lugar da verdade, e sim como modelo para procedimentos e forças que ocultam, invertem e obscurecem essa mesma verdade. Para os que compreendiam seu fundamento óptico, ela oferecia de maneira transparente o funcionamento da representação (servindo de base, por exemplo, ao método neoclassicista de ensino da pintura); para os que ignoravam seus princípios, ela proporcionava os prazeres da ilusão (como no caso da “lanterna mágica” usada como técnica de ilusionismo). É por conta desta ambivalência que Crary empresta o termo deleuziano “assemblage” para caracterizar a câmara escura como algo que é simultaneamente enunciação e objeto discursivo.
O que é crucial a respeito da câmara escura é a delimitação ou corte metódico que ela estabelece com relação à extensão do mundo exterior, de sorte que mesmo o movimento e o tempo ainda podiam ser vistos, mas nunca fixados numa representação. Em seu interior, o espectador era um habitante marginal cujo corpo deveria ser ignorado, como “espaço escuro”, mediante o espectro da razão. Perceber o mundo era efeito não apenas de leis naturais estáveis, mas em igual medida de um sujeito que deveria “sair de cena” para ter acesso, uma vez eliminados os enganos derivados do sensível, do corpo, a um conhecimento objetivo da realidade a ele externa. Esta ocultação do sujeito enunciante na visualidade discursiva, não obstante, coincide historicamente com aquilo que Foucault mostrou, em As palavras e as coisas, ao analisar As meninas de Velásquez: vivendo numa época em que o “eu” começa a se ocultar, o pintor buscava se autorrepresentar a um só tempo como sujeito e objeto.
O colapso da câmara escura como modelo da condição do observador foi parte de um processo de modernização, embora a própria câmara tenha sido um elemento do início de uma modernidade anterior, ajudando a definir um sujeito individualizado, “livre” e privado no século XVII. Contudo, até o princípio do século XX, a rigidez da câmara escura, seu sistema óptico linear, suas posições fixas, sua identificação da percepção e do objeto foram, todos eles, demasiadamente inflexíveis e imóveis diante de um conjunto de exigências políticas e culturais que se transformavam com rapidez. – Jonathan Crary, TdO, p. 135.
Os primeiros sinais que indicam o declínio desse modelo são apontados por Crary na doutrina das cores de Goethe. A orientação de Goethe para fechar o orifício anuncia a disfunção e a negação da câmara escura como sistema óptico e como modelo epistemológico: com os olhos voltados para a escuridão, vislumbra-se a mancha remanescente da imagem projetada, só que uma mancha que provém, agora, do próprio corpo do observador. Esta nova imagem não apenas desfaz a distinção entre espaço interno e externo, da qual dependia o próprio funcionamento da câmara escura como aparato e como paradigma, mas passa a ser também efeito de um olho, de uma experiência corporal que o modelo clássico era incapaz de abarcar. Ora, os círculos coloridos que flutuam na escuridão não possuem correlato dentro ou fora da câmara escura; trata-se de cores que pertencem inteiramente ao corpo do observador e que, para Goethe, constituem as condições necessárias da visão.

Crary é cuidadoso ao pontuar que essa visão subjetiva como lugar onde se funda a possibilidade do observador já teria sido antecipada por Kant, no século XVIII, para quem os fenômenos é que se regulam pelo nosso modo de representá-los. Mas o historiador também nos lembra que, para Schopenhauer, influenciado por Goethe, o sujeito transcendental kantiano não passava de uma ilusão, um fantasma. E conforme a crítica de Nietzsche à utopia de Schopenhauer a despeito de uma ordem definitiva por trás do subjetivo e do fisiológico, a “percepção pura” schopenhauriana foi fundamentalmente uma fuga do corpo sexual. Em todo caso, a importância de Goethe ao desvincular da visão um mundo exterior, estável e fixado reside na desestabilização das certezas concernentes tanto ao sujeito quanto o objeto – e no mesmo gesto, “havia o entusiasmo e o assombro em relação ao corpo, que aparece agora como um novo continente a ser explorado, mapeado e dominado, com novas cavidades e mecanismos revelados pela primeira vez” (TdO, p. 82).
IV. Em busca de uma subjetividade demasiado objetiva
As crianças que se espantam com a cara que pintaram. São crianças; mas quem diz que o que é tão fraco em criança seja muito forte quando se tem mais idade? Só se faz mudar de fantasia. Tudo que se aperfeiçoa progressivamente definha também progressivamente. Tudo o que foi fraco jamais poderá ser totalmente forte. Por mais que se diga: ele cresceu, ele mudou, ele é também o mesmo. – Blaise Pascal, Pensamentos (WMF Martins Fontes, 2005, p. 779).
Essa visão que havia sido tirada das relações incorpóreas da câmara escura e realocada no corpo humano foi objeto-chave de estudo nas ciências experimentais do século XIX. Disso resulta, por mais paradoxal que possa parecer, a reconstrução do observador como algo calculável e padronizável, bem como as disposições individual e social como coisas mensuráveis e, portanto, intercambiáveis. Isso se torna mais claro se levarmos em conta que as mais disseminadas tecnologias de produção de efeitos “realistas” na cultura visual de massas, como o estereoscópio, basearam-se em uma abstração radical da experiência óptica, o que dependeu inclusive de uma mudança do que significa “realismo” no século XIX.
Neste ínterim, o resgate de uma “visão subjetiva”, frequentemente associada ao contexto do romantismo – que exaltava uma percepção exclusiva aos artistas e poetas, diferenciada da visão moldada por práticas empíricas ou positivistas –, aparece em contraste com a supressão sistemática da subjetividade da visão no interior da câmara escura (que alicerçava o pensamento dos séculos XVII e XVIII). Ao mesmo tempo, o “realismo” remanescente da câmara escura levantava a seguinte questão: como uma fundamentação subjetiva pode reivindicar uma verdade objetiva? Foi com tal dilema que a fisiologia, de 1820 até a década de 1840, relacionava-se menos com quaisquer descobertas empíricas e mais com uma nova arena de reflexão epistemológica em que o corpo assumia o lugar tanto do poder como da verdade – eis a ruptura que Foucault identifica entre os séculos XVIII e XIX por meio da qual o homem aparece como um ser em que o transcendente é retratado no empírico.

Observemos rapidamente como tal paradigma está associado a um projeto de visão primordial ou “inocente”. Na página 27 do volume XV de The works of John Ruskin, encontramos o seguinte trecho: “Todo o poder técnico de pintar depende de recuperarmos aquilo que pode ser chamado de inocência do olho, ou seja, recuperarmos uma espécie de percepção infantil dessas manchas lisas de cor, meramente como tais, sem consciência do que significam, como um cego as veria se subitamente lhe fosse restituída a visão”. Segundo Crary, esta percepção pura, elevada, foi um dos aspectos mais marcantes do modernismo no século XIX, que em Ruskin aparecia sob a insígnia da infância inocente, de um passado até então ausente que possibilitasse uma visão subjetiva purificada, como um sentido privilegiado. O autor também pontua que essa integração entre esquecimento deliberado (do passado) e uma instauração ativa de uma “nova origem” abarcou grande parte da mentalidade romântica: não se tratava meramente de um desejo de destruir tudo o que veio antes, mas antes da esperança de finalmente chegar a um “presente verdadeiro”, um novo ponto de partida.
Não é difícil notar como este privilégio de uma visão inocente reivindicado por Ruskin era tão contraditório quanto a superação, reivindicada por Marx, do fetichismo da mercadoria – sendo nesta contradição que ambos se alinhavam com William Morris, figura-chave na história do design. Em seus Economic and Philosophic Manuscripts (New York, 1968, p. 140), Marx afirmou que “A natureza específica de cada força essencial é precisamente sua essência específica e, portanto, também o modo específico de sua objetificação”, ou seja, ele denunciava uma lógica de naturalização (do valor e do trabalho) partindo justamente de outra lógica essencialista como pressuposto natural. Assim como Marx, Ruskin sugeria que uma visão especializada e elevada (a dos artistas) era condição irrevogável para que as forças produtivas do homem fossem realizadas em sua plenitude – ou seja, a divisão da visão em detrimentos dos demais sentidos acabaria com outra divisão, a do trabalho. E finalmente em William Morris, essa mesma contradição aparece em seu elogio a uma percepção plena e desinteressada que só poderia ser acessada em um mundo desprovido de valores de troca.
O mais contraditório em Morris, no entanto, era o fato de que, embora ele se distinguisse de Ruskin e dos pré-rafaelitas (ao defender uma arte alcançada a duras penas, mas sem o peso das convenções e dos códigos tradicionalmente herdados), seu olhar desinteressado e não reificado pelos imperativos clássicos resultava igualmente da busca romântica por uma inconsciência “inocente” do olhar. Analogamente, as ciências experimentais já incorporavam esta mesma premissa desde as décadas de 1830-40, investigando uma pretensa neutralidade da visão humana em detrimentos das demais funções “secundárias” do corpo. Este imperativo da soberania do sentido da visão, portanto, pode ser visto paradoxalmente como ponto de partida para os tantos modelos de normatização quantificável da percepção, que atualmente convergem nas chamadas “tecnologias da atenção”, nas quais sequências de estímulos ou imagens supostamente produziriam o mesmo efeito repetidamente, como se fosse “a primeira vez” – eis o sonho de Ruskin, Marx e Morris finalmente materializado.

Ao sublinhar que “o modernismo é inseparável dos processos de racionalização científica e econômica, em vez de ser uma reação contrária a eles ou de transcendê-los” (TdO, p. 88), Crary elucida que o “realismo” no século XIX era indissociável da necessidade econômica da rápida coordenação dos olhos e das mãos no contexto do trabalho industrial, onde a “desatenção” era tida como um sério problema disciplinar entre os trabalhadores. Disso provém a demanda por um conhecimento preciso das capacidades ópticas e sensoriais do homem. Só que, uma vez estabelecido que a percepção dependia primeiramente do funcionamento de um organismo empiricamente constituído, e que havia técnicas e procedimentos práticos para aprimorar tal percepção, as condições de possibilidade de uma psicologia fisiológica (estudo quantitativo da percepção em termos de atenção, tempo de resposta, limiar de estimulação e fadiga etc.) foram as mesmas que fundamentaram a defesa emancipatória da “visão subjetiva” nas teorias e experimentações artísticas modernistas.
V. A cegueira solar da pós-imagem retiniana
O ofuscamento é a noite em pleno dia, a obscuridade que reina no próprio centro do que existe de excessivo no brilho da luz. A razão ofuscada abre os olhos para o sol e nada vê, isto é, não vê. – Michel Foucault, História da Loucura (São Paulo: Perspectiva, 1997, p. 270).
Exemplo do discurso fisiológico em voga na época, dentre os vários elencados por Crary, é o Manual da fisiologia humana de J. Müller, que atribui ao corpo uma capacidade inata de “produzir experiência” para o sujeito, com ênfase a um olho que torna equivalentes as diferenças. Se até então nunca se questionava a relação de correspondência simultânea entre um objeto exterior e sua projeção na câmara escura, aqui a temporalidade tornou-se inseparável de uma visão que passava a determinar retroativamente aquilo que via, pondo em cheque o ideal cartesiano de um observador sincronizado com a coisa observada. Por conseguinte, se todas as teorias dominantes da visão (seja de Alberti, Kepler ou Newton) descreviam como um feixe de raios de luz isolados atravessa um sistema óptico, com cada raio percorrendo o caminho mais curto possível para chegar ao destino, a partir do século XIX (sobretudo com Faraday e Maxwell) a luz passou a ser concebida como um fenômeno eletromagnético cada vez menos relacionado com o âmbito do visível.
Não por acaso a chamada “pós-imagem retiniana” era um dos mais importantes fenômenos ópticos discutidos por Goethe em sua Doutrina das cores. Definida como presença da sensação na ausência de um estímulo, a pós-imagem retiniana é aquela que persiste na retina por uma fração de segundo após a percepção de um objeto que se ausenta – coisa que desde a Antiguidade foi relegada à categoria de falsa aparência, fora do domínio da óptica, e que com Goethe adquiriu o estatuto de “verdade óptica”, de componente irredutível da visão. Cientistas do século XIX como David Brewster, Joseph Plateau e Gustav Fechner, em seus estudos sobre as pós-imagens retinianas, conceberam uma experiência óptica abstrata, isto é, não atrelada diretamente a objetos do mundo empírico. Paralelamente, a denúncia em comum entre pensadores como Goethe, Schopenhauer, e Schelling era que o funcionamento da câmara escura, que na Dióptrica de Descartes representava uma garantia contra a insanidade e a desrazão, manteve invisível o fato de que a visão nunca esteve subordinada a uma imagem exterior do verdadeiro ou do real.

Este aspecto etéreo e invisível que ultrapassa os modelos newtoniano e euclidiano de espaço e forma encontrou expressão significativa na fase tardia de William Turner. Para fazer o quadro intitulado “Luz e cor (A teoria de Goethe) – A manhã após o dilúvio” (1843), Turner eliminou todas as mediações que antes o haviam distanciado e protegido do brilho do sol, capturando-o diretamente com os olhos e incluindo os processos retinianos na tela de pintura. A estrutura circular dessa pintura, conforme relatava Turner, representa menos a forma do sol e mais a pupila do olho que o observa, como se o sol pertencesse a um corpo que se impõe como fonte de sua forma. Em “O anjo no Sol” (1846), Turner pintou a figura de um anjo alado no centro do quadro, como uma declaração exaltada do caráter ofuscante de uma visão que não se deixa fixar na câmara escura. Por isso Crary chega a afirmar que “O sfumato de Leonardo da Vinci – que nos três séculos anteriores havia gerado uma prática contrária ao predomínio da óptica geométrica – triunfa de maneira súbita e avassaladora em Turner” (TdO, p. 136).
Um fato curioso foi que Turner não era o único que prejudicava severamente sua própria visão ao olhar fixamente para o Sol; os últimos três cientistas mencionados também sofreram danos irreversíveis nos olhos ao longo de suas pesquisas sobre pós-imagens retinianas. Este foi o custo merecido para que se estabelecessem unidades de mensuração científica das sensações, incrementos quantificáveis que permitiriam tornar a percepção humana calculável e produtiva economicamente. Ao tornar mensurável algo que nunca se repete da mesma forma, a abstração da visão alcançava o ápice de sua função homogeneizante: os desvios subjetivos puderam assim ser nivelados num sistema de igualdade formal (análogo ao dinheiro) em que toda a gradação das diferenças se traduzia finalmente como um imperativo útil resultante de uma mesma medida que torna as pessoas mais gerenciáveis e previsíveis.
Parafraseando Nietzsche, o “mundo real” que a câmara escura havia estabilizado por dois séculos não era mais o mundo mais útil ou valioso. A modernidade que envolvia Turner, Fechner e seus herdeiros não precisava mais desse tipo de verdade e de identidades imutáveis. Um observador mais adaptável, autônomo e produtivo era necessário tanto no discurso como na prática – para se ajustar às novas funções do corpo e à ampla disseminação de signos e imagens indiferentes e conversíveis. A modernização resultou em uma desterritorialização e uma revaloração da visão. – Jonathan Crary, TdO, p. 146.

Eis o aspecto mais radical da reconfiguração da visão operada no século XIX: o observador não pode mais ser objetivamente capturado e representado pela câmara escura, mas sua relação subjetiva e abstrata com imagens e signos (a controversa “soberania da visão”) pode ser quantificada, condicionada, regulada e normatizada. Com efeito, “as modernas formas de poder também surgiram da dissolução dos limites que haviam mantido o sujeito como um registro interior, qualitativamente separado do mundo. A modernização exigiu que esse último refúgio fosse racionalizado” (TdO, p. 145). Mesmo a psicanálise, por exemplo, pode ser entendida como uma operação que realoca os conteúdos “interiores” do inconsciente em um registro no qual eles podem ser formalizados em termos linguísticos, ainda que imprecisos. Importa constatar como a autonomia do olhar subjetivo e seu corpo abstrato se cruzaram continuamente e se sobrepuseram com frequência num mesmo terreno, ainda que por meio de práticas e discursos diferentes, desencadeando um regime de visualidade cujo legado serão todas as indústrias da imagem e do espetáculo que despontam no século XX e XXI.
VI. Que sol é este que aparece ora fora da caverna, ora dentro da câmara escura?
A tradição filosófica se recusa a fazer da razão a improvável flor de tal canteiro corporal; recusa a materialidade dos destinos e a mecânica, complexa decerto, mas mecânica mesmo assim, do ser; ela se rebela contra a ideia de uma física da metafísica, considera heterogêneas à sua disciplina todas as outras atividades, ainda mais as atividades triviais que se preocupam com a matéria do mundo; permanece platônica e cultua o fantasma de um pensamento sem cérebro, de uma reflexão sem corpo, de uma meditação sem neurônios, de uma filosofia sem carne, diretamente descida do céu para se dirigir à única parte do homem que escapa da extensão, a alma. – Michel Onfray, A potência de existir (WMF Martins Fontes, 2010, p. 18).
Em um caminho contrário daquele seguido por Weber, Lukács, Simmel e outros, assim como de toda a reflexão teórica concebida em termos de racionalização e reificação, Crary propõe uma lógica da modernização radicalmente dissociada da ideia de progresso ou de desenvolvimento, conjugando ao invés disso uma narrativa de transformações não lineares. Reconhecendo o impacto social e cultural gerado pela fotografia e pela infinidade de técnicas correlatas para industrializar a criação de imagens, o historiador analisou como a câmara escura, ao invés de possibilitar diretamente a fotografia, foi antes abolida por uma mobilidade e intercambialidade sem precedentes, na conformação de uma experiência visual abstraída de qualquer lugar ou referencial fundante. “Apesar das tentativas de autenticá-la e naturalizá-la, a experiência visual perdeu no século XIX as pretensões apodícticas de que se valia a câmara escura para estabelecer a verdade” (TdO, p. 23).
O mesmo olho que outrora garantia uma relação de presença e transparência do sujeito ao mundo mergulhou, a partir do início do século XIX, na opacidade e espessura do corpo humano que, por sua vez, ocultou-se em fórmulas abstratas e homogeneizantes. De um modo quase anedótico, os carrascos da razão moderna e da dedução objetiva comungaram na mitologia que criaram e, sem nunca duvidarem do que viam, promoveram a mesma uniformização que até então combatiam. O que não se esperava era que a perda do tato enquanto componente crucial da visão seria imprescindível para o isolamento empírico da mesma, o que dotaria a percepção de uma aura confusa e absorta – evidenciada de maneira exaustiva na ruptura da chamada “arte conceitual” entre o que é palpável e o que é visível.

Estas seriam as coordenadas preliminares para um grande “espetáculo” social que, no entendimento de Guy Debord, somente tomará forma de maneira efetiva ao final da década de 1920, concomitantemente com as origens tecnológicas e institucionais da televisão, o início do som sincronizado nos filmes, o uso de técnicas de mídia de massa na Alemanha, o aumento da urbanização e o fracasso político do surrealismo na França. Para o pensador situacionista, a reorganização industrial do corpo no século XIX e a soberania de um olho desprovido de tatilidade teriam estabelecido condições sob medida para um consumo espetacular:
O espetáculo, como tendência a fazer ver (por diferentes mediações especializadas) o mundo que já não se pode tocar diretamente, serve-se da visão como o sentido privilegiado da pessoa humana – o que em outras épocas fora o tato; o sentido mais abstrato, e mais sujeito à mistificação, corresponde à abstração generalizada da sociedade atual. – Guy Debord, A sociedade do espetáculo (Rio de Janeiro: Contraponto, 1997, I, § 18).
Em contrapartida, numa de suas maiores análises sobre modernidade e poder, Foucault denuncia o uso desmedido do termo “espetáculo” como explicação simplista de como as massas são controladas ou enganadas pelas imagens midiáticas: “Nossa sociedade não é do espetáculo, mas da vigilância. […] Não estamos nem no anfiteatro nem no palco, mas na máquina panóptica” (Vigiar e punir, Vozes, 2007, p. 179). Partindo da estrutura panóptica de Bentham como objeto teórico fundamental, Foucault ressalta como os sujeitos se tornaram objetos de observação uns dos outros, seja sob a forma de controle institucional, seja sob a forma do estudo científico e comportamental. Para Jonathan Crary, contudo, a oposição foucaultiana entre vigilância e espetáculo descarta precipitadamente a maneira pela qual os efeitos desses dois regimes de poder acabam coincidindo em determinado momento:
[Foucault] negligencia os novos modos pelos quais a própria visão se converte em um tipo de disciplina ou forma de trabalho. Os aparelhos ópticos do século XIX envolveram, não menos que o panóptico, ordenamentos dos corpos no espaço, regulações das atividades e o uso dos corpos individuais, que codificaram e normatizaram o observador no interior de sistemas rigidamente definidos em termos de consumo visual. – Jonathan Crary, TdO, p. 26-27.

De fato, aquilo que Goethe enunciava como reviravolta dramática, e que em Turner assumia certa euforia lírica, é hoje apenas uma situação adquirida, banal, inevitável, codificada – nem dramática, nem trágica, nem lírica. A observação contemporânea, ao invés de “distraída”, tem se pautado cada vez mais num fluxo de sensações equivalentes em meio a uma enxurrada inaudita de estímulos diferentes, gerando a tão receada “procrastinação” (que significa adiamento da ação, e não desatenção em si). Ao mesmo tempo, os dispositivos tecnológicos, saberes, práticas e discursos reforçam e reeditam aquela mesma concepção mensurável da visão: enquanto os computadores têm cada vez maior capacidade de “armazenamento” e desempenho de estímulo-resposta, desenvolve-se paralelamente uma intensa preocupação com a eficiência do corpo, hiperestimulação sexual, técnicas e medicamentos para o bem-estar emocional, para manter-se em atividade física etc.
Não são mais as leis, as técnicas ou as convenções que se opõem ao desejo de ver; tudo é visto e mostrado sem constrangimentos, sendo o único empecilho, novamente, a precariedade de um corpo desnudado, desencantado, desmascarado – Turner foi só mais um poeta dessa antiga solidão do homem abandonado diante de seu corpo. O que não muda é o predomínio de um à priori platônico em virtude do qual ainda se pensa que a única realidade digna de ser vista deveria ser invisível: a alegoria da caverna atua na cultura ocidental como um manifesto contra a feiura do mundo sensível, contra a tangibilidade, a materialidade e a imanência do corpo humano. Sob este prisma, tanto a câmara escura quanto o sol que a atravessava não foram páreos para a propedêutica do dualismo mente-corpo, da alma imaterial, do ideal ascético-bovarístico de sonhar demais uma vida evitando vivê-la de fato.
Não é por acaso que Goethe ficou mais conhecido por sua versão literária de Fausto – uma popular lenda alemã sobre a decadência do Dr. Fausto, homem das ciências que, desiludido com o conhecimento de seu tempo, faz um pacto com o demônio Mefistófeles que lhe promete o auge do progresso humano: o controle pleno sobre a vida. Os desdobramentos de tal promessa na contemporaneidade são por demais visíveis, sobretudo nas representações da “ciência” em enredos cinematográficos (como em A pele que habito de Almodóvar): de um lado, o desejo de superar os limites humanos e de dominar uma suposta natureza primitiva e, de outro, a esperança da autonomia subjetiva do homem moderno, este herói de si mesmo. Recorrência maior poderia ser encontrada, ainda, na miríade histórica de insurgências mitológicas desta matriz fáustica – a começar pelo mito de Hefesto na Grécia antiga, passando pela produção alegórica de esculturas no período helenístico, a alquimia medieval e o Renascimento gótico, os esoterismos iniciáticos da Europa oitocentista etc.

São tais confluências simbólicas, diga-se de passagem, que fundamentam a chamada antropologia do imaginário de Gilbert Durand, para quem o movimento sociocultural percorre uma espécie de pêndulo em espiral entre a contestação e o recalcamento, entre códigos programáticos e a marginalia insuspeita, entre mitos que são desmitologizados e aqueles que, no mesmo gesto, se remitologizam. Sob tal perspectiva, Durand elege Charles Baudelaire como representante fáustico do decadentismo romântico e, ao mesmo tempo, um dos primeiros restauradores do mito de Hermes na modernidade, ainda que pela via do fracasso (uma recusa prometeica que não possibilita a realização hermesiana). Essa concepção decadentista não deixa de ecoar no discurso contemporâneo que elege a dor e o sofrimento como vias de acesso ao conhecimento e à redenção pessoal, acrescentada da garantia tão constatada de que o martírio individual não abole o cativeiro coletivo. Ser no mundo como uma censura viva do prazer de existir, como mecânica cega que envolve um olhar sempre em vias de alternar sua posição de reificado pela de reificante. O fora está dentro, e vice-versa; o espetáculo não tem muralhas, não tem fronteira clara e por isso não se escapa dele.
Um conhecido diagnóstico do século XX é aquele que o caracteriza como a “era dos extremos”, nos termos do historiador Eric Hobsbaum: se outrora a história avançava muito mais lentamente do que o corpo ao longo de uma vida, hoje é ela que vai mais depressa, que corre, que escapa ao homem que nada faz além de continuar lamentando sobre sua alma sensível que não tem lugar na insensibilidade do universo. Claro que a proliferação das tecnologias de comunicação tem favorecido essa impressão de velocidade e contradição extremas, mas isso somente mediante os discursos modernos que perduram na esfera moral-institucional e também na ordem do cotidiano, do banal e do insignificante. É nesta sombra moderna, pautada pelo desejo de controle, disciplina e permanência que devem ser enquadradas as generalizações “pós-modernas” a despeito da sensação de insegurança, relativização e insuficiência numa prática social marcada por desregramentos disciplinados, dissonâncias entre a estimulação corporal e suas circunstâncias controladas etc.
Se retomarmos, no entanto, a premissa inicial desta resenha, talvez seja possível encontrar outras linhas de força a partir da experiência do desenho, esse corte ancestral que procede da interação entre uma carne subjetiva e o mundo que a contém. Nunca isentada dos modelos de representação que chegam e passam, a prática do desenho guarda com fidelidade um gesto que não desce do céu, mas sobe do corpo e provém das entranhas. Mesmo seguindo códigos e gramáticas historicamente herdados, o desenho começa por esquecer o desenhar em si para estabelecer seu ponto de partida noutro lugar: não na superfície do papel que se separou da natureza para exprimir uma subjetividade autônoma, mas nos abismos do corpo, na mancha sonora que vem até nós como o cheiro da chuva, o barulho da cidade ou o silêncio de uma madrugada. O que ficará é o rastro de uma imensa recusa contra um mundo inatingível senão por cálculos e conceitos, contra uma invisibilidade abstrata que jamais existiu.

Essa recusa é emblemática atualmente por não se tratar de síntese ou equilíbrio, mas de uma tensão sempre insolúvel entre diferenças que não se deixam anular mediante quaisquer tentativas de homogeneização. Quero crer que na prática artística, por sua vez, importa menos o status de uma visualidade histórica do que o da genealogia de uma obra: num lugar ao acaso, num momento preciso, ocorre alguma coisa que resolve contradições e tensões acumuladas precedentemente num corpo. Antes de sequer iniciar uma obra (seja um desenho, um livro, uma música, uma escultura etc.), forças, tensões e nós interpretativos trabalham incessantemente o interior dessa máquina não apenas desejante, mas também frágil e susceptível a estímulos ínfimos. A expressão artística, filosófica ou científica, cada qual à sua maneira, assinala a liberação treinada desse material acumulado, uma resolução apurada que, de outro modo, condensaria na lamentação uníssona de uma vida não vivida.
Por mais distantes que tais considerações possam estar do objeto deste texto, penso que Jonathan Crary tinha um bom motivo para diminuir a importância das transformações na representação visual para compreender, sob outros focos, as reconfigurações do observador. Servindo-se de seu instrumental teórico enquanto historiador, e limitando-se ao recorte do século XIX, a preocupação de Crary talvez fosse menos o estatuto da visão do que como ela operava nos processos de subjetivação. Ao menos é esta ênfase que nos permite, no âmbito da reflexão filosófica, precisar e ao mesmo tempo relativizar a figura de um expectador remoto e enredado nos fluxos de informação, impulsionado pelo ritmo full-time e pressionado por uma vida sob demanda. Embora Crary não tenha apontado diretamente a este cenário, arrisco-me a esboçar uma cena preliminar, finalizando esta resenha por meio de outra – a de um conto contemporâneo chamado Night Work, de Thomas Glavinic.
Um homem de trinta anos, Jonas, acorda uma manhã e o mundo que ele encontra está vazio, sem seres humanos. Seu apartamento, as ruas, as lojas, os cafés, tudo está ali, imutável, com todos os traços daqueles que ainda ontem moravam ali, mas não moram mais. O enredo trata da peregrinação de Jonas através desse mundo abandonado, ora a pé, ora dirigindo os carros que estavam ali à sua disposição. Ele olha as casas, os prédios, as esquinas e pensa nas inumeráveis gerações que passaram por ali e que não estão mais lá; e compreende que tudo que vê é esquecimento, nada além do esquecimento que chegará ao absoluto logo depois, assim que ele próprio não estiver mais lá. Meu ponto é que, por mais apático que este mundo nos pareça, ainda assim olhamos, traçamos o que vemos e alternamos incontavelmente nossas maneiras de olhar. Mas o que vemos é sempre uma mesma evidência, iluminada por um mesmo sol ao longo dos séculos, de que tudo o que existe é esquecimento.
Crédito das pinturas: (1) Henrik Uldalen – 2012, (2) Andy Denzler – 2014, (3) Yoshi Sodeoka – 2010, (4) Paul W. Ruiz – 2012, (5) Paul W. Ruiz – 2013, (6) Fotografia colorizada de Bold Street Liverpool – 1862, (7) Jefferson David Chalfant – Bouguereau’s Atelier – 1891, (8) Johannes Vermeer – 1665, (9) Diego Velázquez – 1656, (10) Thomas Eakins – 1875, (11) Charles Gleyre – 1865, (12) John Everett Millais – 1852, (13) William Turner – 1843, (14) William Turner – 1846, (15) Johannes Vermeer – 1668, (16) Ian Francis – 2014, (17) Maria Kreyn – 2012, (18) Shane Wolf – 2012.
Vídeo acima: “Beauty” (Rino Stefano Tagliafierro, 2014).





Comentários
Os comentários estão encerrados.